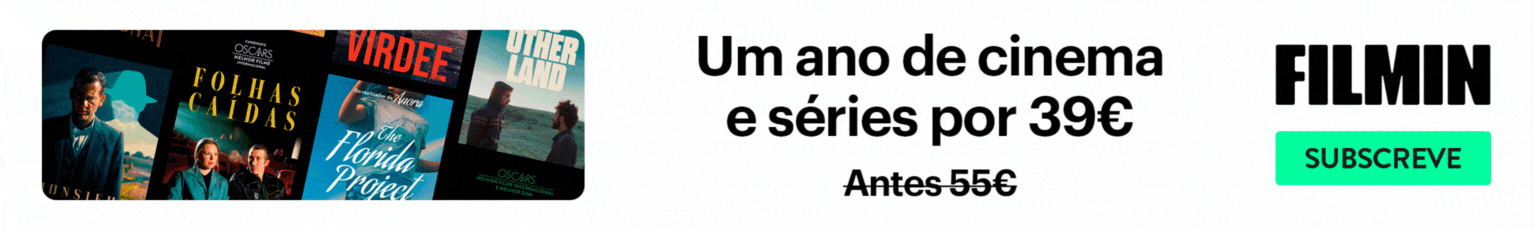Houve um tempo em que “The Royal Tenenbaums” era, sem qualquer hesitação, o meu filme favorito de Wes Anderson. E não apenas pela estética — embora as paletas cromáticas meticulosamente pensadas, os movimentos de câmara coreografados com rigor e a banda sonora melancólica ajudassem a compor um universo irresistivelmente ímpar. O que me tocava, acima de tudo, era o desalinho humano que habitava aquele mundo simétrico. Havia uma tristeza bela, difusa e persistente, que se insinuava sob a excentricidade das personagens e a perfeição dos enquadramentos. Uma dor reconhecível, embalada em charme visual. E havia Gene Hackman, claro — numa performance que é, ao mesmo tempo, ferida e ferina, como se ele condensasse, num único gesto, toda a disfuncionalidade do clã Tenenbaum.
Com o tempo, “The Darjeeling Limited” foi ocupando esse lugar no meu afeto. Talvez porque fala de irmãos que tentam reencontrar-se, mesmo sem saber ao certo porquê. Um trio em luto — da mãe, do pai, de si mesmos. O filme é atravessado por uma espiritualidade que roça o cliché, mas que, paradoxalmente, parece sincera. É um filme sobre o deslocamento — físico, emocional, simbólico — e sobre a delicada tentativa de se religar ao outro. E a si próprio.
Entre esses dois marcos, deixei-me afetar por outras paisagens e afetos: a ternura delicadamente ilustrada de “Moonrise Kingdom”, com o seu primeiro amor desenhado em tons pastel; a inteligência ácida e vulpina de “Fantastic Mr. Fox”, que recorre à animação stop-motion para falar de classe, desejo e inadequação com uma leveza inquietante; e o monumental — e já clássico da sétima arte — “The Grand Budapest Hotel”, que costura farsa e elegia com um sentido de fim: o fim de uma Europa, de uma inocência, de um tempo. Cada filme, à sua maneira, parecia descortinar uma nova janela — ou, no mínimo, levantar uma cortina diferente — para o mesmo palco encantado, onde Wes Anderson encenava o seu teatro de melancolia.
Ainda concedo simpatia a “Crónicas de França” — uma carta de amor dispersa, sim, mas com lampejos de brilho e um olhar afetuoso sobre o jornalismo e a arte de contar histórias.
Também reservo elogios às curtas inspiradas em Roald Dahl para a Netflix, que, talvez por contarem com outras regras do jogo, escapam ao piloto automático e surpreendem pela síntese e invenção. Esses, sim, merecem aplauso.
Mas “Asteroid City”... não. Esse me escapa. Não me atravessa, não me mobiliza, não me deixa rastro. E não é por falta de qualidades: a direcção de arte é irrepreensível, a estrutura narrativa engenhosa, e os temas — luto, alienação, simulacro — têm peso. Mas tudo me soa excessivamente autoconsciente, como se o filme estivesse mais preocupado em parecer um “filme de Wes Anderson” do que em pulsar como cinema vivo. Como se tivesse sido concebido já a pensar no making of, nos stills do Instagram, nas t-shirts com frases de efeito.
“Asteroid City” revela uma sensação que vinha a crescer em mim: o estilo, que outrora era uma marca de poesia e profundidade, transformou-se numa defesa. Uma capa de beleza que afasta o desconforto e estanca a surpresa. O cinema, que antes era um veículo de emoção genuína, tornou-se meramente ornamentado. E o que é o cinema sem a coragem de arriscar, de falhar, de se abrir à novidade?
A história, centrada na convenção anual Junior Stargazers de 1955, serve de alerta. O filme é um espectáculo visual impressionante, mas emocionalmente estéril. A direcção de arte de Adam Stockhausen brilha, talvez até de forma excessiva. O argumento de Wes Anderson e Roman Coppola parece ter sido escrito entre uma prova de guarda-roupa e outra. Tudo é tão cuidadosamente planeado que sufoca. A estética, que antes encantava, transformou-se numa carapaça: impecável por fora, mas vazia no seu âmago.
E agora, com o trailer de “O Esquema Fenício”, chega a confirmação: o cinema de Wes entrou oficialmente na sua fase “Pinterest”. Tudo é belo, tudo é simétrico, tudo é coeso, tudo é… Wes Anderson. Mas e depois? O estilo, que um dia foi assinatura, tornou-se caricatura — um estilema repetido até à exaustão, feito para ilustrar editoriais da The Hollywood Reporter ou alimentar Reels de perfis indie no Instagram.
As personagens? Variações da mesma matriz nostálgica. Os diálogos? Lapidados ao ponto de parecerem slogans de tote bag. Os exageros cénicos? Já foram charme — agora são bengala. A sensação? A de estar preso num déjà-vu cinematográfico onde tudo é bonito, mas nada é novo. Uma repetição graciosa, porém, exaustiva.
E é precisamente por ser fã que este desencanto dói mais. Não se trata de desdém gratuito nem de má vontade — muito pelo contrário. É o cansaço de quem acompanhou com entusiasmo cada nova obra, defendeu o estilo quando era acusado de ser apenas artifício, e que agora assiste, quase resignado, à repetição automatizada de uma fórmula. O que antes me surpreendia, agora apenas se repete — como se a magia tivesse sido transformada num algoritmo de design em algum prompt genérico.
A verdade é que Wes Anderson parece viver hoje num looping estético, onde o maior risco é desalinhar o centro geométrico do enquadramento. E quando o maior medo de um cineasta é sair do prumo visual, talvez seja hora de parar. Respirar. Errar. Desordenar. Porque, no fim das contas, não basta ser bonito. O cinema, mesmo quando abraça a beleza, exige desconforto. Exige risco. Exige vida.