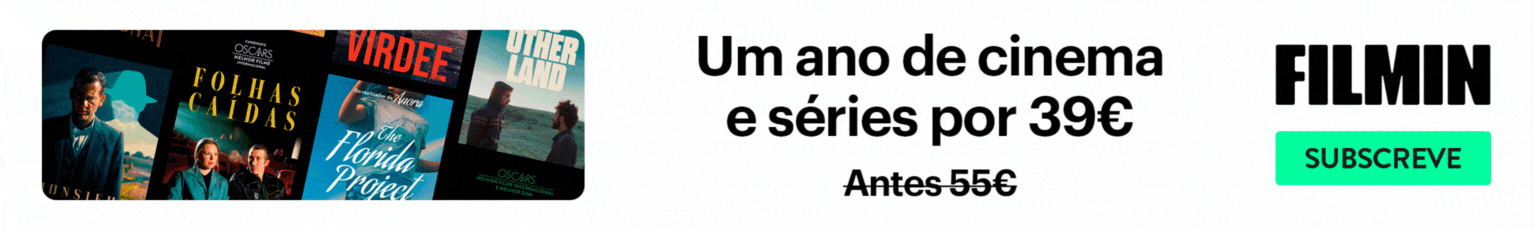A genialidade de Fellini impressiona. Abala quem estiver mergulhado na apatia. Desdobra e critica a condição humana, explorando – como só ele sabe – a relação que se (re)constrói continuamente entre a sociedade italiana e as suas próprias raízes. Mas o que torna “As Noites de Cabíria” (1957) tão especial? Não me cabe a mim decidi-lo. No máximo, cabe-me apenas partilhar a subjetividade da experiência como espectadora. Recorrendo a um exemplo distante, o sorriso de Cabíria tem um peso semelhante ao de Fernanda Torres na pele de Eunice Paiva (“Ainda Estou Aqui”, 2024). É um ato de resistência, de uma gentileza inesperada num contexto de violência, de luta pela mudança contra uma sociedade que as oprime. São o reflexo de mulheres que não precisam de ser devotas para ter fé.
Giulietta Masina interpreta uma prostitua azarada com alguma sorte. É frágil ao ponto de ser apresentada como uma vítima de uma tentativa de homicídio, mas forte de espírito. Através dessa mesma resiliência foi capaz de adquirir certos “luxos” – sendo um deles, o de maior orgulho, a sua própria casa. Cabiria conquista pela sua simplicidade e expressividade humorística – atrevo-me a dizer que é uma caricatura fiel dos movimentos de Charlot. É impossível desviar o olhar dela, algo que não acontecesse na “Doce Vida” (1960). A nossa atenção tem que ser partilhada – o charme de Marcello Mastroianni é irresistível, a elegância de Anouk Aimée é majestosa e Anita Ekberg traz uma vitalidade incomparável. Na “Doce Vida”, a essência é a mesma, mas a estratégia hipnótica muda. Nas Noites de Cabíria não acontece o mesmo. O plano é dedicado a uma só pessoa. É ela quem se destaca, seja no seu círculo mais próximo ou no mundo elitista das estrelas de cinema, acabando por cair nos encantos de um galã, ainda que momentaneamente. Este contraste social é surreal e evidente ao longo do filme. Mesmo com humor, Fellini expõe-no com uma brutalidade poética, embora satírica, e mesmo assim é difícil descrever o impacto do choque. Está aqui escondida uma visão muito específica e pessoal da realidade – uma visão com a assinatura típica felliniana.
Manoel de Oliveira (Ditos e Escritos, p.256) chega mesmo a sintetizar, a propósito do realizador e da própria Giulietta, que este é “o mais belo de todos os filmes de Fellini, cujo percurso dramático transforma o trágico num hino à vida, e é transbordante de sensibilidade.” Não poderia ter descrito melhor. Se há algo marcante na sua estética, assim como na de Agnès Varda, por exemplo – mesmo que em dimensões completamente diferentes – é a empatia do olhar de quem filma. É esse o segredo.
Foi a sua forma de olhar Roma enquanto cidade, Roma enquanto uma amálgama de enredos, e, acima de tudo, a sua forma de olhar Masina, que torna este clássico tão irremediavelmente magnético. Fellini é um provador, parece que faz de propósito para despertar um gatilho nos sentidos, não na razão. Obriga-nos a experienciar o emocional; a ativar um lado instintivamente reacionário. Talvez seja essa uma das suas lições: sente primeiro, pensa depois. Varda chegou mesmo a reforçar, sobretudo no que diz respeito aos documentários, a importância dessa mesma empatia, tanto nas filmagens como na edição. O cineasta parece subscrever, aplicando o mesmo pensamento ao filmar Giulietta – Fellini quer que o público veja aquilo que ele viu. Com a sua expressividade única, Masina é magistral. Scorsese conhece bem o trabalho do mestre italiano, chegando a referir-se à “Doce Vida” como um “filme moral, e é sobre a perda da inocência, e examina um estilo de vida e a Itália daquele tempo, 1959.” (Martin Scorsese interview on Federico Fellini, 1993).
Também este é um filme moral – mas não é de todo sobre a perda da inocência. Pelo menos no que toca a Cabiria – por isso é tão inesquecível. Mesmo em contextos potencialmente destrutivos, estamos a falar de uma mulher que não deixa de ser guiada pelo sonho. Numa das suas típicas críticas à Igreja, o cineasta não deixa de mostrar o quanto a religião é importante para a população. Fá-lo aqui; faz o mesmo na Doce Vida. Em ambos, a crítica chega quase a roçar o fanatismo e a devoção popular – população essa que precisa dessa instituição para lutar contra a miséria e desespero do quotidiano – enquanto que no seu filme Roma (1972) a crítica aborda uma dimensão mais material. Mas Fellini atribui a Cabíria uma complexidade nova. Na igreja, Giulietta beija o chão e faz um único pedido. Depois disso, a sua intimidade emocional é explorada, com recurso à hipnose, num espetáculo de magia. O que parece trágico milagrosamente adquire uma nova faceta quando Oscar cai de amores por Masina e está disposto a casar com ela. A experiência do passado com homens sem escrúpulos coloca-a à prova.
Quando sentimos que Fellini vai fechar o ciclo quanto ao destino da personagem, terminando o que iniciou, o inesperado acontece. É um verdadeiro hino à vida, como Oliveira referiu; uma autêntica carta à trágica loucura de sonhar. Na “Doce Vida”, o realizador finaliza com uma oposição entre um corrompido e um inocente, refletido na perda do diálogo – no facto de Mastroianni não conseguir entender. É essa a grande lição moral. Cabíria, com todas as razões para cair nessa mesma tentação, não o faz. Consegue ouvir, consegue sentir tudo à sua volta. Mas perdeu tudo. Perdeu tudo, menos a sua inocência. Venceu ou Perdeu?
A barreira entre a ficção e a realidade desaparece. Cabíria simplesmente olha para nós e, com lágrimas nos olhos, sorri. Masini dá-nos um último sorriso, Fellini um último desgosto. Nós, em troca, só podemos dar a certeza de que, pelo menos durante aquele último momento, o coração fala mais alto do que a razão. O legado não desaparecerá.