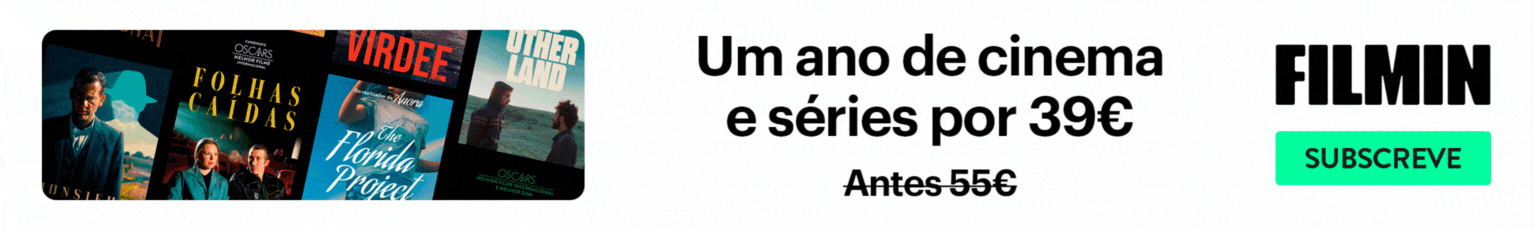Nos dias monótonos, especialmente nos finais de semana, a solidão toma conta do quarto vazio. A luz do sol que entra pelas frestas da persiana desenha linhas no soalho empoeirado, enquanto o silêncio é apenas quebrado pelo canto distante dos pássaros. Sem alternativas, a televisão torna-se a única companhia possível, uma fuga momentânea da própria solidão. Envoltos em pijamas quadriculados e com semblantes fechados, acomodamo-nos no sofá com uma chávena de café fumegante nas mãos. A textura áspera do tecido contra a pele e o calor reconfortante da bebida servem como um lembrete fugaz da nossa presença física. Pés para o ar, ligamos a televisão e iniciamos a busca por algo interessante nos canais, focando principalmente nos de filmes e séries.
Apáticos, zapeamos pelos canais e paramos num qualquer. A imagem no ecrã transforma-se num borrão de cores e formas, enquanto o som se mistura num ruído incompreensível. É como se navegássemos num mar de opções, sem bússola e sem destino. Finalmente, paramos num canal que exibe uma série de época aleatória. Com ritmo lento, argumento insólito e arrastado, a série parece ter sido feita apenas para preencher o catálogo do streaming. A trama gira em torno de uma família disfuncional num episódio qualquer, com personagens sem carisma e situações clichés. Sem alternativas, entregamo-nos à história, ainda que a contragosto. É como se estivéssemos presos num ciclo infinito de tédio e monotonia.
Foi assim que me senti ao assistir “Ferrari”, de Michael Mann. Esse filme entra para a minha lista de vistos apenas uma vez, como um mero registo de uma tarde vazia. Prefiro ver “Speed Racer”, das Wachowski, pela sexta vez, do que revisitar “Ferrari”. Um melodrama que não me agradou e que dificilmente voltarei a ver. Todavia, não quero ser totalmente injusto com a produção de Mann e com o argumento de Troy Kennedy Martin, baseado no livro Enzo Ferrari: The Man and the Machine, do jornalista automobilístico Brock Yates.
Apesar dos problemas com os diálogos, a construção das personagens (principalmente a de Adam Driver) e a condução da narrativa, as cenas de corrida são impecáveis. Mesmo que pareçam longas e até desnecessárias em alguns momentos, elas tiraram-me o fôlego e causaram-me uma sensação quase instintiva de adrenalina. O mérito por isso vai para a montagem de Pietro Scalia, a direcção de arte de Maria Djurkovic e, claro, a fotografia densa e soturna de Erik Messerschmidt.
Fora isso, uma cena em particular destacou-se na minha mente, e devo confessar que me emocionou profundamente. As lágrimas afloraram-me aos olhos enquanto a testemunhava. Refiro-me ao momento em que Ferrari vai à ópera. Ao compasso de La traviata, Act III: Parigi, o cara, de Giuseppe Verdi, muito bem misturada por Lee Orloff e editada por Bernard Weiser, ele desvela uma clareza de sentimentos profundos.
No vai e vem dos flashbacks que revisitam a sua vida conjugal, busca um golpe extraordinário de beleza no emaranhado das adversidades quotidianas, como carros a serpentear túneis ou presos em engarrafamentos nas grandes avenidas de uma metrópole global, onde cada obstáculo parece afundá-lo um pouco mais. A abertura, o recitativo, a ária e a nota alta, cada elemento da composição de Verdi ecoa em algum recanto da sua alma, assim como o significado e a ausência de sentido que percorrem as suas veias, assemelhando-se a um dos seus velozes automóveis que procura alcançar o fim da pista vencendo mais uma dura corrida.
Em seguida, os aplausos reverberam, coincidindo com o momento em que as nossas mãos largam o apoio do assento. Pode ser ruidoso, contudo, ao abraçar esse tumulto, aprendemos a aceitar que a trajectória da nossa vida não será tão suave e previsível como o projecto meticuloso de um carro de luxo. O caminho que percorremos é como uma estrada cheia de buracos e remendos malfeitos, e é nessa trajectória que, para o bem ou para o mal, nos vamos ajustando aos altos e baixos que ela nos apresenta.