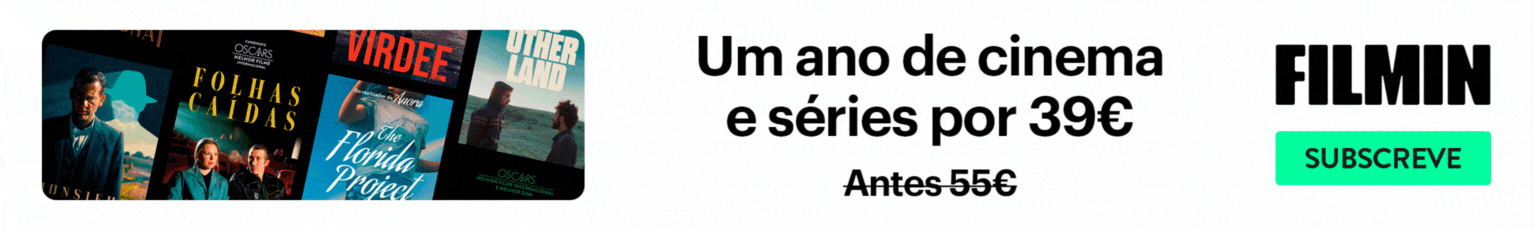Existem filmes que se impõem como etapas naturais de uma peregrinação autoral — “Sirât”, de Oliver Laxe, é um deles. Depois de três passagens marcantes por Cannes — “You All Are Captains” (2010), Prémio FIPRESCI na Quinzena dos Realizadores; “Mimosas” (2016), Grande Prémio da Semana da Crítica; e “Fire Will Come” (2019), distinguido com o Prémio do Júri na secção Un Certain Regard —, o cineasta estreia-se, enfim, na competição principal com a sua obra mais ambiciosa, contundente e plenamente realizada até à data. Um gesto autoral absoluto, que consolida uma trajetória feita de silêncio, de paisagens sagradas e de uma fé radical na imagem. O filme conta ainda com a produção da El Deseo, de Pedro e Agustín Almodóvar, uma aliança que sublinha a confiança crescente na visão singular do realizador.
Filho de emigrantes galegos, nascido em França, Laxe tem dividido a sua filmografia entre dois mundos que lhe são essenciais e parte da sua vida: Galiza e Marrocos. Se o primeiro moldou notavelmente a atmosfera da sua obra anterior, é no segundo que “Sirât” encontra o seu cenário. Há ecos de “Mimosas” nesta nova travessia espiritual, sobretudo ao revisitar os trilhos do Atlas, mas aqui o horizonte é ainda mais incerto: não há certeza de redenção, apenas a promessa de que algo — ou alguém — persiste. O resultado é um filme desarmante e vertiginoso, que não exige apenas a nossa atenção, mas sim entrega total, e cuja intensidade permanece bem depois de o projetor se desligar
Inspirado na imagem islâmica da ponte Ṣirāṭ — mais fina que um fio de cabelo, mais afiada que uma espada, estendida sobre o inferno e atravessada pelas almas em direção ao paraíso —, o filme reconfigura essa alegoria numa geografia concreta. Entre raves ilegais e rumores de uma 3.ª Guerra Mundial, o sul de Marrocos torna-se o palco de uma travessia física, emocional e espiritual. Luis (Sergi López), um homem silenciosamente em ruínas, parte com o filho Esteban (Bruno Núñez) à procura de Mar, a filha desaparecida há cinco meses. Munidos de panfletos com o rosto da rapariga, cruzam-se com um grupo de ravers errantes — Jade (Jade Oukid), Steffi (Stefania Gadda), Josh (Joshua Henderson), Tonin (Tonin Janvier) e Bigui (Richard Bellamy), todos estreantes no cinema — que lhes oferecem talvez não uma resposta, mas uma nova direção, uma outra festa no deserto. Sem garantias, apenas movidos por uma fé difusa, o pai e o filho seguem o grupo. Mas nada em “Sirât” se esgota na sinopse: é um filme em estado de travessia, entre o visível e o invisível, entre o sagrado e a ruína.
A beleza do cinema de Laxe está na recusa de controlar o rumo da narrativa — prefere perder-se e, connosco, extraviar-se. Deixa que esta se desfaça em pulsações, silêncios e desvios, como quem filma não para explicar, mas para habitar o mistério. Filmado em 16 mm por Mauro Herce, o deserto não é apenas cenário — é uma personagem por si só, captada com uma beleza quase etérea e espectral: colunas de pó, veículos a cruzar o deserto que aludem a “Mad Max: Fury Road” (2015), faróis a rasgar a escuridão como em “Lost Highway” (1997), planos aéreos que diluem a escala humana na vastidão mineral. E, como um western pós-apocalíptico, inscreve as figuras humanas numa topografia em desaparecimento, onde a travessia já não é apenas geográfica, mas metafísica.
Embora a banda sonora pulse em techno, o que se instala é uma solenidade inquieta. A paisagem sonora, composta por Kangding Ray, vibra como um organismo vivo, hipnótica e, por vezes, dissonante. A rave, com os seus corpos dançantes, tatuados, mutilados, parece já não celebrar nada: é uma festa no limiar do abismo.
No coração do filme, pulsa uma ternura discreta: o vínculo entre pai e filho, exposto aos sobressaltos da travessia e ao confronto com formas de vida que lhes são alheias. Ao longo da viagem, Luis começa a entrever, no meio da poeira e da música, os possíveis motivos pelos quais a sua filha se terá deixado seduzir por aquela vida; Esteban observa tudo com uma curiosidade silenciosa, atraído pela vitalidade do grupo. E é nesse espelho que se adensa o medo de Luis: o de estar a perder não só o rasto da filha, mas também o fio que o liga ao filho — um medo contido, jamais dramatizado, porque Laxe nunca se rende à tentação do sentimental; a violência latente mantém o afeto em tensão.
Formalmente ousado, o filme abdica de explicações fáceis e de resoluções narrativas. O realizador prefere criar zonas de indeterminação onde tudo é possível: é esse o verdadeiro risco do seu cinema, mas também a sua glória. A determinada altura, já não sabemos se estamos num futuro próximo ou numa distopia paralela; se as personagens estão plenamente presentes ou num estado entre mundos.
Num tempo em que o cinema frequentemente se refugia no conforto da legibilidade, “Sirât” surge como um gesto audaz e renovador — um filme que reafirma Laxe como uma das vozes mais singulares e visionárias do cinema de autor europeu contemporâneo. Construído ao longo de uma obra marcada pela contemplação rigorosa e uma relação quase litúrgica com a imagem, este filme mantém viva a força silenciosa que tem caracterizado a sua obra, ao mesmo tempo que a expande para territórios ainda mais extremos e desafiadores. “Sirât” não se limita a ser visto — atravessa-nos. E é dessa passagem, sentida mais do que compreendida, que nasce a sua verdadeira grandeza.