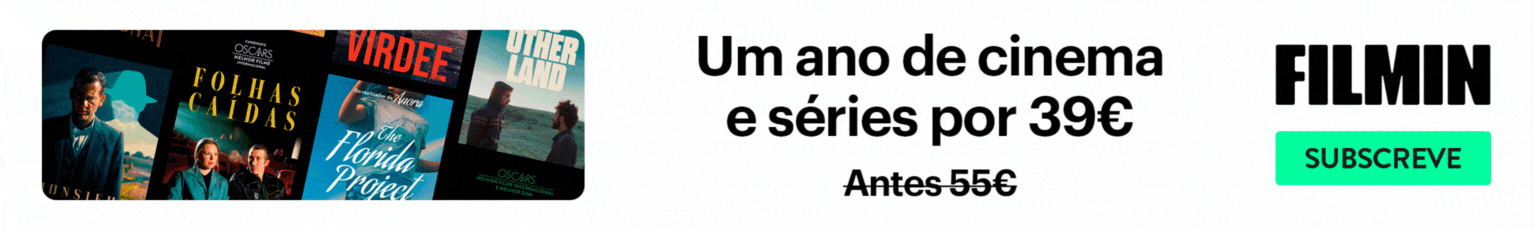No ano passado, “The Darjeeling Limited” (2007), do Wes Anderson, chegou até mim como quem bate à porta sem avisar — meio sem jeito, trazendo uma bagagem maior do que deixava parecer. Era só mais um filme da lista, um título perdido entre tantos, escolhido num daqueles fins de noite em que tudo o que queremos é um pouco de silêncio — e, talvez sem admitir, um pouco de companhia também.
Mas bastaram os primeiros minutos para perceber que não vinha só. Trazia três irmãos, uma sucessão de desencontros e uma mala cheia de lutos: o luto do pai que já cá não está, da mãe que escolheu o afastamento, da infância esquecida nalgum canto da memória. E o luto mais difícil de todos: o de si próprios — essa espécie de distância que só se reconhece quando alguém pergunta “está tudo bem?” e a resposta tarda mais do que devia.
Eles atravessam a Índia num comboio que não tem pressa. Como se o tempo ali fosse outro. Como se houvesse algo dentro deles (e de nós) que precisasse de mais tempo para ser mexido. Dizem que estão em busca de reconciliação. Mas há algo de hesitante nesse gesto. Como se nem eles próprios acreditassem nessa viagem. Como se estivessem ali mais por inércia do que por desejo. Carregam malas (físicas, simbólicas, emocionais) que dizem mais do que qualquer linha de diálogo. Aliás, quase tudo o que importa no filme está no que não é dito.
É um road movie sobre família, sim — mas não sobre aquela que se abraça no final. É sobre a família que falha, que desaparece, que se magoa e se desencontra; que carrega ausências que não se resolvem com palavras. A mãe que se isolou num mosteiro. O pai que partiu sem aviso. Os irmãos que, apesar de tudo, ainda se procuram. Porque, no fundo, o que nos prende aos outros não é só o amor: é o hábito, é a memória, é o que sobra quando o afecto já não sabe como se mostrar.
Há espiritualidade, claro. Mas há também uma certa melancolia na forma como ela se apresenta. Como se tudo aquilo — os rituais, os templos, os objectos sagrados — fosse apenas moldura para um vazio interior. Não é fé o que se busca; é paz, é sentido, é consolo. E talvez o que há de mais honesto no filme seja, justamente, ele admitir que não tem respostas.
O estilo visual de Wes Anderson, com a sua simetria obsessiva e paleta de cores cuidadosamente orquestrada, não serve apenas como estética (é linguagem). Cada enquadramento fechado, cada composição precisa, carrega um sentido de controlo que contrasta com o caos emocional das personagens. É como se tudo ao redor fosse arrumado para compensar o desalinho interior. Um mundo onde tudo parece no seu devido lugar, enquanto os protagonistas tropeçam em sentimentos mal resolvidos.
Para além disso, o filme recorre ao humor — não, porém, a um riso fácil ou à leveza escapista que almeja distracção. Trata-se, antes, de uma comicidade rarefeita, tingida de melancolia, quase resignada, que germina nas minudências do absurdo quotidiano e nas fricções discretas da convivência. Um gesto atabalhoado, um olhar que se cruza fora de tempo, uma conversa subitamente truncada por trivialidades insólitas — a aquisição de serpentes, o extravio de malas, viagens de motocicleta a três, o velório de completos estranhos ou a inesperada hospedagem num mosteiro perdido no mapa. Esses episódios, de uma graça por vezes involuntária, instauram uma espécie de leveza retida, mas não iludem a dor recalcada: antes a revelam por contraste. É um riso que emerge entre suspiros e pausas, como quem se ri para não desabar, ou como quem escuta uma anedota de gosto duvidoso e, ainda assim, consente no sorriso — não pela graça, mas pelo reconhecimento do esforço alheio de simplesmente prosseguir.
Logo, é curioso como a viagem pela Índia, com toda a sua carga simbólica e mística, não se transforma numa experiência de descoberta externa, mas sim num confronto interno. A paisagem exótica, os cenários entusiásticos e a cultura pulsante não funcionam como catarse espiritual no sentido tradicional; pelo contrário, ampliam o contraste entre o movimento do comboio e a estagnação dos sentimentos. Viajar, aqui, é quase um paradoxo: quanto mais se deslocam no espaço, mais se percebem presos dentro de si próprios. A Índia não os transforma; o que ela faz, talvez, é expô-los, lentamente, ao que por tanto tempo evitaram.
A própria escolha da música — alternando entre faixas indianas tradicionais e canções ocidentais, em especial alguns clássicos do rock britânico — reforça esta dualidade entre o fora e o dentro, entre o que se quer encontrar e o que se teme reconhecer. A banda sonora é, assim, mais um dos fios que cose as feridas não visíveis das personagens, servindo como ponte entre mundos distantes, tal como os irmãos o são entre si: familiares, mas estrangeiros.
Ao longo da viagem, não há resgate, nem grandes transformações (e nem precisaria). Há um pequeno gesto: deixar as malas para trás. Mas até esse gesto, aparentemente simbólico, tem algo de ambíguo, porque nem tudo se deixa. Algumas coisas ficam, e algumas dores acomodam-se dentro de nós, tornando-se móveis da casa.
No fim, é um filme sobre a tentativa. E há algo de profundamente humano e doloroso em ver alguém tentar, mesmo sem saber por onde começar. Porque todos nós, de algum modo, andamos por aí com uma mala nas mãos, fingindo leveza. Todos nós, em algum momento, embarcamos num comboio sem saber o destino, apenas com a esperança vaga de que alguém esteja no banco ao lado. Ou de que, pelo menos, ainda haja tempo para pedir desculpa.