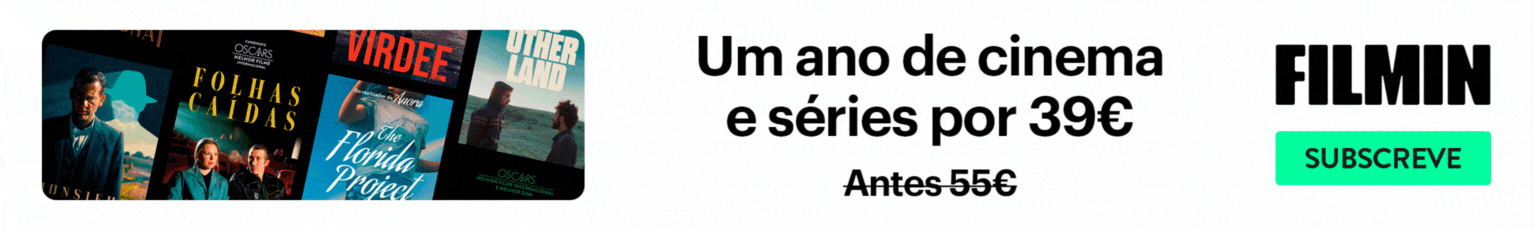Poderá o cinema imitar-se a si próprio? Não só pode, como o faz todos os dias. A questão é saber se esse gesto é um mero pastiche ou se resulta num verdadeiro ato criativo. A novidade relativamente ao segundo filme de Richard Linklater em 2025 — depois de “Blue Moon”, na homenagem ao compositor Lorenz Hart, estreado em janeiro em Berlim — é justamente o prodígio de imitar, não apenas um filme, mas também a evocação da nouvelle vague, talvez o período mais marcante da história do cinema.
O resultado é um belíssimo exercício de cinefilia, uma cápsula de tempo que confirma aquilo que Susan Sontag designava como cine love, essa derradeira centelha capaz de salvar o cinema diante do avanço do digital.
Para alguns, “Nouvelle Vague” poderá ser um mero exercício de mimetismo documental que nos transporta de volta a um tempo fundador. No entanto, o filme apresentado em Cannes, em estreia mundial, e agora em San Sebastián, na secção Perlas, conquistou-nos. Desde logo, pela proximidade ao real, permitindo-nos quase reviver os dias em que um punhado de jovens críticos dos Cahiers du Cinéma passou das palavras à ação.
Se em “Blue Moon“ o foco estava na essência de uma personagem, aqui Linklater arrisca mais e reviver o período mítico, quando em 1959, Jean-Luc Godard inicia a rodagem de “À bout de souffle” (“O Acossado”). O argumento, assinado por Holly Gent e Vincent Palmo Jr., colaboradores habituais do realizador, assume-se como um diário de rodagem ficcionalizado, bem mais convincente do que outras tentativas recentes, como o esforçado mas irregular “Godard, Mon Amour” de Michel Hazanavicius, de 2017.
A estratégia é clara desde o início: emular não só o estilo visual da época — o grão da película, a iluminação natural, a improvisação — mas também a constelação de nomes que marcaram a história. Vemos surgir, devidamente identificados (mas escusamo-nos do name dropping dos ilustres desconhecidos que dão o corpo a), Truffaut, Chabrol, Rivette, Rohmer e claro, Godard. Tal como ao produtor Georges de Beauregard, que acreditou no risco de financiar a estreia de Godard, na sua primeira longa metragem, após o sucesso, em Cannes, de “Os 400 Golpes”, também marca presença, tal como os protagonistas, Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo, recriados com assinalável fidelidade.
Um dos momentos mais inspirados é a forma como Linklater recupera a célebre frase atribuída a Godard: Para fazer um filme, basta uma rapariga e uma pistola (um eco de Samuel Fuller). Essa mistura de simplicidade e radicalidade, que transformou a maneira de pensar o cinema, está no coração do filme.
É claro que a figura de Godard domina todo o espaço. Sempre de óculos escuros, cigarro em riste, os seus aforismos circulam como se fossem o motor da narrativa. Queixa-se de ser o último dos Cahiers a fazer cinema, dita aos atores instruções de improviso no próprio dia da rodagem e, sobretudo, afirma sem hesitar: O cinema é uma arte revolucionária.
A encarnação de Jean Seberg é particularmente notável: não só pela semelhança física, mas também pelo francês dito com sotaque americano. É ela quem sustenta a delicadeza do filme, recordando que Godard lhe pedira para ser simultaneamente a santa de Joana d’Arc e a pecadora de “Bonjour Tristesse”. Já Belmondo, no plano final, encarna o que talvez seja “o rosto mais triste da história do cinem”a, quando pronuncia a célebre frase: Qu’est-ce que c’est dégueulasse.
Um gesto táctil em tempos digitais
Num mundo dominado pelo digital, não deixa de ser curiosa a motivação de Linklater a recuperar o lado táctil da película. Não por fetichismo, mas por rigor histórico: usou inclusivamente a mesma câmara de Raoul Coutard, o operador que filmou “À bout de souffle”. Esse detalhe, partilhado pelo realizador em San Sebastián, revela até que ponto este projeto é um ato de amor pela materialidade do cinema.
“Nouvelle Vague” assume-se, assim, como uma reconstrução enciclopédica. Cada figura é nomeada, quase como num álbum ilustrado, e remetida para uma memória partilhada da cinefilia. É um filme que documenta uma ficção, ou talvez uma ficção que documenta a realidade.
O risco de uma empreitada destas é evidente: como representar figuras tão conhecidas sem cair na caricatura? Linklater enfrenta esse desafio com sobriedade, evitando a tentação de reduzir tudo a estereótipos. O resultado é um filme que, sendo por vezes enciclopédico, nunca deixa de emocionar.
Na montagem, a homenagem aos jump cuts de Godard é assumida com frontalidade: cortar tudo o que não é essencial, libertar o plano de qualquer rigidez narrativa. Há até ecos das célebres interrupções do realizador, quando, após rodar apenas uma cena, encerrava o dia dizendo: Chega por hoje, não tenho mais ideias. Para Godard, a citação sempre foi uma forma de criação: Não interessa de onde vem, mas para onde a levamos.
No fim, “Nouvelle Vague” é um filme de amor. Amor a uma época, a um grupo de jovens que ousou reinventar o cinema, e a uma linguagem que ainda hoje continua a inspirar. Linklater correu o risco de se perder no labirinto da reverência histórica, mas conseguiu transformar essa reverência num gesto criativo.
Homenagear “À bout de souffle” e o espírito da nouvelle vague é sempre arriscado — pode redundar num exercício estéril ou num tributo vazio. Mas aqui a intenção é rigorosa na reconstrução, mas igualmente sincera na emoção.
Talvez seja esse o maior mérito do filme: fazer-nos acreditar, ainda hoje, que o cinema é possível como um gesto revolucionário. E que, mesmo na era do digital, continua a haver espaço para o tal cine love — essa paixão absoluta que liga quem faz ao que é feito.
Richard Linklater arriscou. E (con)venceu.