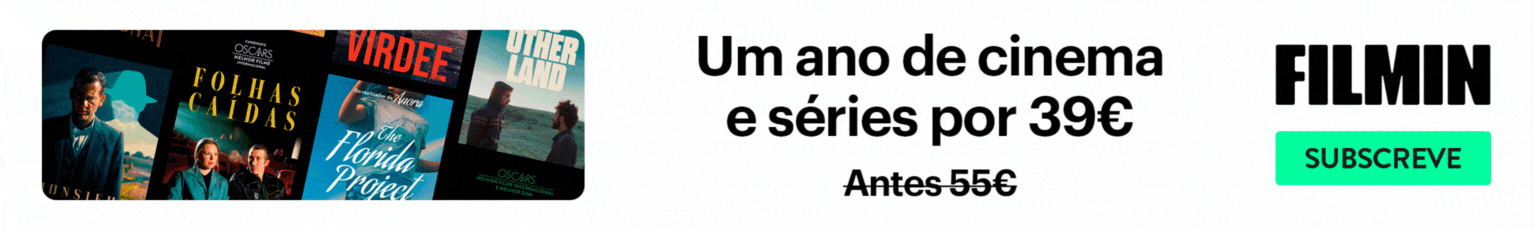O cinema de Claire Denis tem o condão de nos aproximar perigosamente do universo de afectos das suas personagens, dos corpos e das suas pulsões interiores. “The Fence/Le Cri des Gardes”, depois de apresentado recentemente na 50ª edição do festival de Toronto, contribuiu também para a competição do 73º Festival de San Sebastian, na adaptação que a realizadora francesa faz da peça «Combat de nègre et de chiens» (de 1979), de Bernard-Marie Koltès.
É num estaleiro de construção, algures em África, que emerge este universo fechado, carregado de tensão, culpa e silêncios, sob um olhar firme da colonização económica. Estou aqui pelo corpo do meu irmão e só partirei com o corpo do meu irmão. É a partir desta frase que Claire Denis mergulha no confronto entre Horn (Matt Dillon), engenheiro responsável, e Alboury (Isaach De Bankolé), o homem, vestido de cerimónia, que exige a recuperação do corpo do irmão operário falecido durante o trabalho. Um “acidente”, algo que está “dentro do normal”, justifica o capataz; do outro lado, apenas a imensa presença petrificada e digna de Bankolé.
O filme oscila então entre este registo teatral entre ambos, de cada lado do arame farpado, na verdade, uma estrutura que se assemelha muito a um campo de concentração, com as suas torres onde os guardas negros cantam à noite, entre si, os seus cânticos, numa forma de anunciar que “tudo está bem”. Embora se perceba, gradualmente, que nada está bem. A partir de planos sempre fechados, como que a sublinhar esse isolamento, Horn ora negoceia, ora ameaça, ora manipula, sempre sob vigilância armada, provando que quem está verdadeiramente preso é ele e não Alboury, que se mantém distante, livre e dino na penumbra.
A esta tensão soma-se a presença de Cal (Tom Blyth), impulsivo colega de Horn, e Léonie (Mia McKenna-Bruce), recém-chegada de Londres, perdida num território que desconhece.
Com argumento de Denis, Suzanne Lindon e Andrew Litvack, o filme constrói-se com esta atmosfera densa, marcada pelo abuso e exploração económica e colonial. Entre a solidão e a incomunicabilidade, manifesta-se então este retrato sombrio e enigmático, amplificado pela fotografia orgânica de Éric Gautier. Quase quatro décadas após “Chocolate”, Denis regressa a África com uma obra crua e inquietante.
“Potência surda”
Durante o encontro da realizadora na Tabakalera, integrado na seção Nest, dedicada a estudantes de cinema, questionámos Claire Denis sobre uma certa virilidade, uma observação do corpo, mais masculino do que feminino. Justamente, desde o início da sua carreira, com Isaach de Bankolé, em “Chocolate” (1988), passando por “Bom Trabalho” (1999), com Denis Lavant, sobre a Legião Francesa em África, ou até, mais recentemente, em “Com Amor e Fúria“ (2022), com Vincent Lindon e Juliette Binoche, em filmes onde a presença física se assume em pleno.

Denis reconhece a presença da virilidade, embora a considere tanto do ponto de vista do homem ou da mulher. Se sinto neles esse lado de calor físico, isso interessa-me. Para mim, a virilidade é uma expressão um pouco difícil de traduzir. E serve-se mesmo do título do filme do Godard “Masculino/Feminino” para explicar aqui que considera belo: aquilo que é masculino e que, por vezes, existe nas mulheres, e o que é feminino e que, por vezes, existe também nos homens.
Já sobre a presença de Isaach de Bankolé, como essa “imensa estátua petrificada”, nas nossas palavras, reconhece que essa presença imóvel, que espera durante toda a noite, faz dele uma estátua, realçando o Isaach tem uma maneira de existir com o seu físico, a sua interioridade, a sua potência surda que não queremos que seja nossa inimiga. É a sua forma de existir que eu acho muito masculina, embora essa força interior exista também nas mulheres.