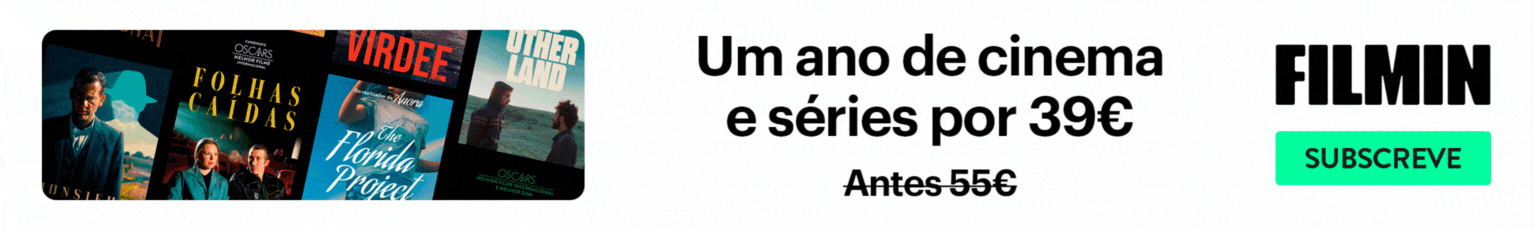“São dois corações a viver em dois mundos diferentes. Mas não é um sacrifício”, canta Elton John em “Sacrifice”, uma das canções mais tristes e mais adultas da música pop do final dos anos 80. Há algo de definitivo nesse excerto: não é mais tempo do amor juvenil, com os seus suspiros e ciúmes, mas do amor corroído pelo hábito, pela frustração e pelas pequenas mortes diárias. Quando esse amor acaba e ele frequentemente acaba, sobra o que fazer com os escombros. No meio deles, invariavelmente, estão os filhos.
Em “A Lula e a Baleia” (2005), Noah Baumbach dramatiza esse “sacrifício” de forma seca, quase cruel, como se retirasse a anestesia de um procedimento familiar e expusesse as vísceras do processo. O divórcio, aqui, não é tratado com eufemismos. É uma mutilação que deixa sequelas invisíveis, algumas incuráveis.
O filme passa-se no Brooklyn dos anos 1980, um bairro ainda mais literário do que gourmet. É nesse cenário de livrarias e praças públicas que a família Berkman se desfaz: Bernard (Jeff Daniels), um professor de literatura preso à sua glória passada, e Joan (Laura Linney), uma escritora que começa a encontrar a sua voz (e a sua autonomia), anunciam a separação aos dois filhos, Walt e Frank. Não há gritos nem escândalos — apenas o início de um revezamento sem lógica entre casas, afectos e culpas. “Será semana sim, semana não”, diz um deles. Mas o que poderia parecer um cronograma razoável logo se revela um labirinto emocional.
Bernard é um tipo muito específico do meio académico: verborrágico, esnobe, ressentido. Os seus julgamentos estéticos — “Kafka é melhor que Dickens, e basta” — são repetidos com fervor pelo filho mais velho, Walt (Jesse Eisenberg), que assume a personalidade do pai como se vestisse um sobretudo de tweed grande demais para o próprio corpo. Aos 16 anos, Walt é incapaz de lidar com a ideia de que a mãe teve outros homens. Rejeita Joan com um desprezo que não lhe pertence, mas que herdou com zelo. Frank (Owen Kline), o irmão mais novo, faz o caminho oposto: implode. Começa a beber, a masturbar-se compulsivamente, a escrever palavrões em cadernos. Enquanto Walt tenta tornar-se o pai, Frank desaparece.
O título do filme vem de uma instalação do Museu de História Natural de Nova Iorque, onde uma lula gigante enfrenta uma baleia num duelo eterno, congelado em resina e solitude. É a metáfora mais explícita e mais eficaz do filme. Os pais tornam-se figuras mitológicas, presas num combate que os filhos assistem sem entender. A luta não é deles, mas é neles que ela se desenha.
O que torna “A Lula e a Baleia” tão incómodo é a sua recusa em mitigar. Não há indulto, nem final virtuoso. Baumbach, filho de um escritor (Jonathan Baumbach) e de uma crítica de cinema (Georgia Brown), não está interessado em “resolver” a família — está interessado em expô-la. O argumento, nomeado aos Óscares, tem uma secura quase brechtiana. Cada diálogo é uma faca: cortante, preciso, sem gordura. Não há banda sonora animada, apenas as músicas que as personagens ouvem — como “The Bright New Year”, de Bert Jansch, que é uma carta melancólica a uma mãe enquanto o eu lírico está em viagem; a clássica “Drive”, dos The Cars, que trata da necessidade de nos exprimirmos numa relação; e “Hey You”, dos Pink Floyd, que o Walt finge ter composto numa cena que, mais do que cómica, é triste. Ele tenta dizer algo seu, mas só sabe repetir o que já foi dito por outros.
Há uma espécie de hierarquia das feridas no filme. Bernard é o mais ruidoso: ocupa espaço, exige admiração, quer ser reconhecido como um homem injustiçado. Joan, embora menos presente, carrega a sua ambivalência com dignidade. É vista pelos olhos dos filhos e, por isso, nunca por completo. Walt acredita que ela destruiu a família com a sua liberdade sexual, mas essa ideia foi-lhe plantada por Bernard. Frank, talvez o mais honesto dos quatro, apenas sente. O seu corpo pequeno não consegue conter a dimensão da dor.
A frase “não foi culpa tua”, tão comum em livros de autoajuda para filhos de pais divorciados, nunca é dita. Porque ali, a culpa é como uma nuvem: está em todo o lado, e ninguém sabe de onde veio. O filme é mais sobre as consequências do que sobre as causas. E isso torna-o universal.
Numa das cenas finais, após visitar o pai no hospital, Walt corre até ao museu. Ao som de “Street Hassle”, de Lou Reed, ele caminha até ao local onde a lula e a baleia estão presas, lutando sob a luz artificial. Pela primeira vez, ele encara a cena que tanto evitava quando criança. Enfrentar aquele duelo congelado é, talvez, o primeiro passo para se separar da guerra dos pais. Para encontrar a sua própria linguagem. Para começar a viver uma história que não seja apenas eco da deles.
Ao fim, “A Lula e a Baleia” é um daqueles filmes que permanecem não pelo impacto imediato, mas pelas fissuras que deixam: fragmentado, seco, incômodo. Como “Sacrifice”, de Elton John, fala do fim — não o fim abrupto, mas aquele que se prolonga em silêncio, no desgaste do quotidiano. A canção ainda oferece o alívio da melodia; Baumbach, ao contrário, recusa a comunhão, a expiação, o remédio.
Aqui, o divórcio não é lido como tragédia nem tratado como emancipação. É processo. Um acerto de contas truncado entre egos, rotinas, expectativas falidas. Sem heroísmo, sem vilões nítidos. A moral não está dada (e talvez nem exista). O que resta aos filhos não é uma lição clara, mas o entulho emocional de um desmoronamento doméstico. E com isso, de algum modo, terão de construir uma linguagem própria.