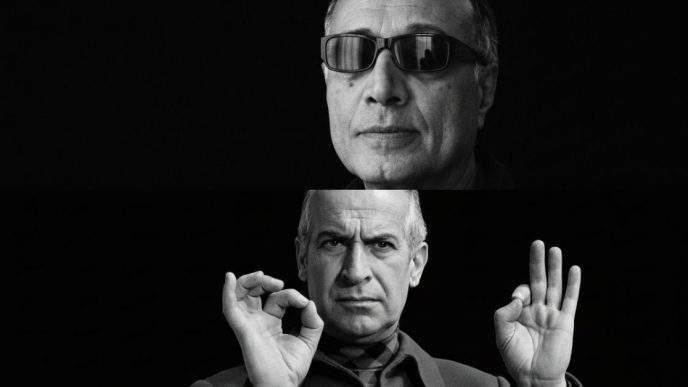Criada pela Associação Alemã de Críticos de Cinema (VdFk), e inspirada na Semaine de la Critique de Cannes, a Woche der Kritik (ou Semana da Crítica em alemão), ficou carinhosamente conhecida como uma seção paralela não-oficial da Berlinale. Acontece simultaneamente ao Festival de Berlim e, desde 2015, vem conquistando espaço entre os cinéfilos que procuram uma programação mais arriscada e reflexiva, menos preocupada com o glamour e mais interessada em pensar o cinema.
Este ano, o filme escolhido para abrir o certame, em estreia mundial, foi a pequena e muito impressionante coprodução entre Reino Unido e Canadá “Worry Time”. Objeto de difícil categorização sobre o desafio de uma realizadora, Anette, que tenta dar vida ao seu primeiro longa, centrado no abuso sofrido por uma amiga. O problema é que essa amiga, hoje já uma conhecida distante, não sabe da existência do projeto. Mais do que isso: reconciliou-se com o seu agressor e está à espera de um filho dele. Anette hesita, trava, reescreve. Que tom adotar ao filme? Como falar de abuso sem ser exploratório? Como transformar dor em narrativa sem trair a amiga? O filme tenta explorar estas questões embalado numa comédia negra que vai se reinventando na mesma medida com que vai se complicando, e até que a própria protagonista começa a perder o controle do que realmente queria dizer. No centro da narrativa há uma inquietação ética que nunca abandona o filme: quem tem o direito de contar a história de um trauma, e a que custo?
A atriz canadense Emma Paetz, que ficou conhecida pela série da HBO Pennyworth, é a mastermind por trás de “Worry Time”. Escreve, produz e interpreta a protagonista Anette, a realizadora iniciante e ansiosa do filme dentro do filme, que está em constante negociação com as expectativas alheias ao mesmo tempo que lida com um escorrimento vaginal misterioso, numa ameaça constante, do filme que estamos vendo e do filme dentro do filme, de se tornar num body horror. Essa vertigem metalinguística é um dos grandes trunfos do jovem britânico Tom Brennan, dramaturgo e encenador com percurso no teatro contemporâneo, e aqui em sua estreia na realização de uma longa de ficção. A experiência teatral de Brennan sente-se na precisão do timing dos diálogos e no ritmo das cenas, especialmente nas sequências de confronto.
Brennan e Paetz constroem o filme como um objeto de fricção constante. Acompanhamos simultaneamente a produção do filme fictício e o tumulto interior da sua autora. O que está em causa não é apenas a representação de um abuso, mas o modo como essa representação é filtrada, corrigida, suavizada e apropriada por uma cadeia de vozes masculinas – produtores, financiadores, consultores – que insistem em ensinar à realizadora como tornar a dor “vendável” ou “apelativa”. Para alguns, o abuso precisa de ser mostrado explicitamente para funcionar. A violência desloca-se então: já não é apenas a do acontecimento inicial, mas a da sua tradução num sistema que reivindica autoridade estética e moral.
No final da apresentação do filme, na noite de quarta-feira, uma jovem da plateia perguntou aos autores, em tom provocativo, se “Worry Time” passava no Teste de Bechdel; critério criado em 1985 pela cartunista Alison Bechdel para medir a representação feminina no cinema a partir de uma regra básica: o filme precisa ter ao menos duas mulheres com nome próprio que conversem entre si sobre algo além de homens. Mas Paetz evitou a armadilha da pergunta e mostrou pouco interesse nessa lógica simplista de representatividade. Admitiu, inclusive, que não vê o seu filme como otimista ou esperançoso. A canadense afirmou que a sua intenção nunca foi a de maquiar a realidade com uma mensagem edificante, mas sim de expôr as suas contradições.
E há algo de profundamente lúcido na forma como o filme revela esse processo. As emoções da protagonista nunca lhe pertencem por inteiro; passam por sucessivas camadas de interpretação e controle masculino. O gesto de dar voz a uma mulher acaba, paradoxalmente, por reproduzir o silenciamento que pretende denunciar. O espectador nunca é colocado num lugar confortável, e o filme tampouco oferece respostas apaziguadoras. Prefere habitar a ambiguidade, deixando que a culpa da realizadora, no filme que está a ser feito, e a nossa, enquanto espectadores cúmplices, se acumule sem uma catarse que resolva as suas tensões.
E no meio disso tudo importa aqui sublinhar de novo: “Worry Time” é uma comédia, e uma comédia realmente engraçada. O riso é nervoso, por vezes cruel, nascido do absurdo das reuniões criativas, das notas dadas “com boas intenções”, das tentativas de enquadrar o trauma dentro de fórmulas narrativas aceitáveis. E a utilização do humor aqui não alivia essa tensão; pelo contrário, torna-a mais exposta.
Outro trunfo do filme é a fluidez com que ele transita entre gêneros e registros: é uma sátira que salta abruptamente da farsa ao terror psicológico em questão de segundos, sem nunca perder o fio da meada do seu universo alienígena. Um filme que habita um espaço entre a desintegração emocional de “Queen of Earth” (2015) de Alex Ross Perry, e a ética turbulenta da criação artística de “Madeline’s Madeline” (2018) de Josephine Decker. A trilha sonora de Cate Le Bon, glacial e levemente dissonante, reforça essa sensação de desalinhamento constante.
Há também algo aqui de futuro clássico de culto. “Worry Time” é um filme inclassificável que é, no fundo, tanto sobre o luto e a erosão lenta de uma amizade quanto sobre a impossibilidade de representar eticamente a dor alheia sem a transformá-la de novo em matéria de consumo.
Uma estreia brilhante que, agora apresentada ao mundo em Berlim, revela uma voz autoral muito atenta às fraturas do seu tempo e disposta a expô-las sem qualquer rede de proteção.