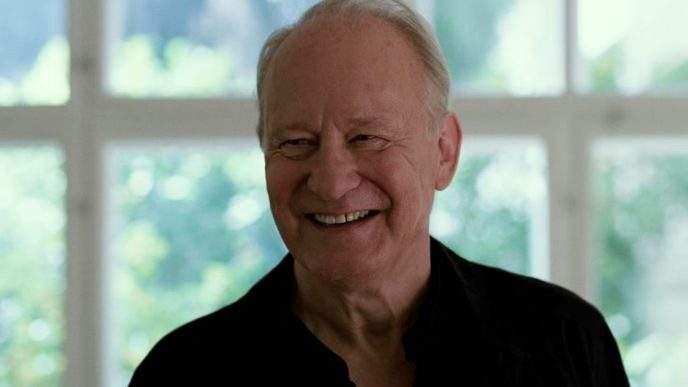Kenneth Lonergan é um autor que habita a fronteira incerta entre o cinema e o teatro, e talvez por isso a sua obra pareça sempre suspensa numa balança emocional: um precipício suave, silencioso, onde a incerteza não é um passo em falso narrativo, mas uma condição ontológica das personagens. O dramaturgo e cineasta norte-americano construiu uma obra singular que interroga o desamparo, a culpa, o luto, a memória e a forma como tentamos sobreviver perante os escombros dos dias que se sucedem.
Desde o princípio, Lonergan demonstra uma sensibilidade para a vida interior. Nos palcos, peças como This Is Our Youth, The Waverly Gallery ou Lobby Hero revelam uma escrita que se recusa a dramatizar excessivamente aquilo que é profundamente trágico. Os jovens alienados, os veteranos desencantados ou os vigilantes com uma moral questionável movimentam-se numa realidade onde as regras são definidas quase entre palavras mudas, hesitações que revelam tanto como se fossem audíveis, à sombra daquilo que é dito. Existe sempre uma dor, um luto que pesa mas não tem nome.
A sua transposição para o cinema não trai esta sensibilidade. Dá-lhe um corpo visual. Em “Podes Contar Comigo” (“You Can Count on Me”, 2000) já se encontra explícito o tema da responsabilidade afectiva e da impossibilidade de viver em linha recta. As personagens de Lonergan não encontram soluções fáceis: a reconciliação consigo mesmo são extemporâneas, as feridas não fecham e os afectos são, na maior parte das vezes, expressados numa sucessão de tentativas falhadas. Aqui, o cinema prolonga a dramaturgia, uma mise-en-scène a roçar o pudico e observante, que desmonta de forma precisa e devastadora a fragilidade de um qualquer ser humano.

Com “Margaret” (2011), Lonergan embarca numa das mais ambiciosas narrativas sobre a culpa e a responsabilidade moral. O filme, ele mesmo preenchido por batalhas editoriais e de autoria, relata a história de uma jovem que testemunha um acidente fatal, mas é também sobre a própria impossibilidade de reconstruir o que nos rodeia depois de termos presenciado a sua aniquilação num mero instante. Em “Margaret”, a incerteza não é apenas um assunto, é a linguagem na qual o filme comunica. A urbanidade, o complexo emocional, as múltiplas perspectivas e a negação da realidade espelham a turbulência ética dos tempos modernos. A câmera de Lonergan reflete o mesmo estado inquieto das personagens que retrata. É preenchido por um luto moral, não apenas pela morte que presenciamos, mas pela perda da inocência, pela queda da máscara no mundo que conhecemos.
“Manchester by the Sea” (2016) é uma obra de uma dilacerante contenção emocional. A incerteza adquire um peso quase palpável: o ar que se respira numa cidade costeira onde a memória cisma em permanecer e a dor não se dissolve. Lonergan articula o trauma através de uma montagem temporal que reflete o modo como a mente humana regressa ao passado. É um filme que recusa a ilusão da superação completa. Lee Chandler não se transforma, não encontra redenção, não sara as feridas abertas, mas aprende a sobreviver. E é precisamente este gesto que confere ao cinema de Lonergan a sua força: ele respeita o limite da experiência humana.
No teatro, o rigor da palavra. No cinema, o rigor do silêncio. E é neste choque que Lonergan constrói os seus momentos. Na criação de um espaço intermédio, instável, à beira do precipício. Nunca oferece solidez, o chão cede, as relações desmoronam, a memória mente. Mas é nessa incerteza que Lonergan encontra a sua forma de verdade.
Tanto no teatro como no cinema, Lonergan não procura respostas. Procura quem o acompanhe na pergunta. E talvez seja isso que o torn um criador importante de conhecer. A sua capacidade de observar o caos com humanidade e de transformar a incerteza num espaço de lucidez.