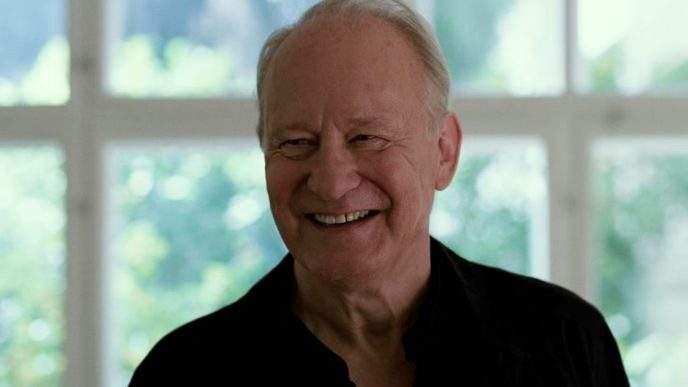Existem filmes que parecem nascer de um ponto cego da alma humana. De um espaço onde o orgulho e o desespero se mesclam, onde o quotidiano é atravessado por algo mítico, arcaico. “Mergulho no Passado” (1968), de Frank Perry, é um desses objectos raros, uma parábola suburbana disfarçada de drama psicológico, um mito moderno que expõe, com uma delicadeza brutal, o abismo entre a imagem que construímos de nós próprios e a verdade que nos espreita por dentro.
O filme nasce da adaptação do célebre conto de John Cheever. Um texto denso e melancólico que Perry expande, mantendo a sua crueldade serena e a sua estranheza moral, transformando em cinema aquilo que, no conto, se apresentava como uma ferida aberta num subúrbio fantasiado.
Desde o primeiro plano, Ned Merrill surge-nos como um homem que já não se encontra no mundo, mas sim numa versão editada de si próprio. O seu projecto (nadar de piscina em piscina até chegar a casa) tem a simplicidade poética de uma fábula e, simultaneamente, o desconforto de um delírio. O espectador percebe, desde muito cedo, que Ned está a representar uma versão de si mesmo. Não sabemos quem é o público, nem qual será o seu objectivo, mas a sua performance é constante. Este nadador é um actor no palco desconexo de cada jardim suburbano, e o percurso que tem em mente percorrer é menos geográfico do que emocional, é uma travessia entre aquilo que imagina ser real e aquilo que, inevitavelmente, se revela ter-se tornado.
Em cada paragem, Ned troca de máscara – ou, mais precisamente, vê cada uma delas partir-se. A confiança exuberante que o acompanha na primeira piscina começa a desvanecer-se em ondas sucessivas, através de pequenas fricções, não por grandes revelações. O olhar de um vizinho que o estranha, um comentário inconveniente que o incomoda, um passado que retorna com culpa, gota a gota.
Perry filma estes encontros como rituais, cada um a contribuir para o desmontar do mito privado de Ned. O seu corpo atlético, o seu sorriso luminoso, a segurança de comportamento, tudo isto são camadas de uma fricção mantida à força, como se Ned acreditasse que poderia nadar mais rápido do que a própria verdade.
O grande gesto de Perry é transformar a geografia suburbana num mapa de emoções. Cada piscina é uma câmara de eco onde ressoam memórias reprimidas, cada anfitrião como uma espécie de arauto trágico que traz sempre uma memória menos agradável. Existe algo de profundamente grego na estrutura do filme: Ned é um herói que não sabe ainda que caiu, e o seu caminho é o regresso impossível ao que foi perdido. Família, fortuna, dignidade e identidade.
No entanto, “Mergulho no Passado” nunca se entrega ao melodrama puro. Encontramos, pelo contrário, uma espécie de realismo febril, numa mistura de elegância plástica com uma inquietação crescente. Frank Perry constrói o filme como uma espiral: Ned começa radiante e termina exausto, derrotado, despojado de qualquer personagem que pudesse ainda interpretar. A última máscara cai quando a chuva substitui a claridade. A casa, destino final da sua odisseia, surge-nos como um túmulo que desejava continuar a habitar.
No confronto final com os estilhaços do seu próprio mito, Ned Merrill deixa de ser personagem e torna-se um símbolo. Não da queda do homem moderno, mas da fragilidade da narrativa que cada um cria para sobreviver a si próprio. “Mergulho no Passado” é, então, um filme sobre o momento em que o espelho deixa de nos atender. E o realizador, com uma precisão rara, mostra-nos que a dor maior não é descobrir quem somos, mas deixar de poder fingir quem queríamos continuar a ser.
O nadador termina sozinho, e é nesse instante que o filme revela a sua verdadeira força: recordar-nos de que a identidade é sempre uma gesto provisório, um esforço de invenção que, por vezes, perde o fôlego numa das margens.