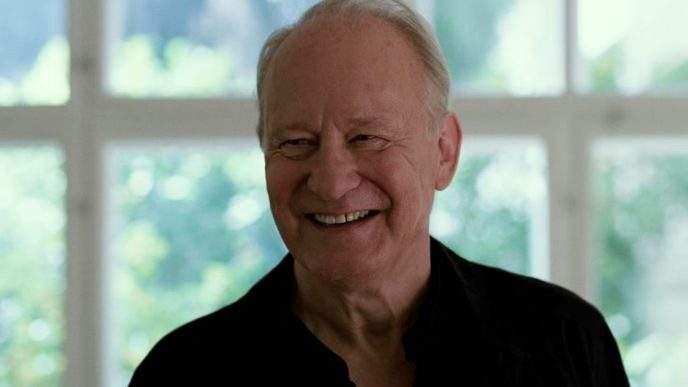Desde cedo, alguns homens crescem convencidos de que a vitória lhes pertence por direito natural. Não por soberba consciente, mas porque o mundo se encarrega de lhes repetir que foram talhados para subir, a linha da vida recta, ascensional, sem desvios nem abismos. São educados para a ideia de que a força resolve, de que a resistência basta, de que a queda é sempre um acidente alheio. Mark Kerr foi um desses homens. Um corpo excessivo, quase mitológico, erguido à custa de músculos e disciplina, um organismo que parecia desconhecer a falha, até ao dia em que esta se impôs e o mito revelou o seu limite.
Ben Safdie parte da história real de Kerr, já antes fixada num documentário de 2002, para construir um filme que recusa a solenidade da epopeia e a vaidade da biografia monumental. “The Smashing Machine” recusa a celebração e prefere a observação. Aproxima-se, escuta, detém-se menos no percurso do herói do que no instante preciso em que este percebe que já não o é. Safdie filma a fractura, não o triunfo, o silêncio posterior ao impacto, não o barulho da aclamação.
Kerr foi um dos rostos fundadores de um MMA ainda em estado embrionário, forjado no Japão, sob a égide do Pride, nome ironicamente eloquente para um espectáculo onde homens de corpos desmesurados se enfrentavam dentro de uma jaula, enquanto o mundo projectava neles fantasias de invencibilidade. Durante anos, Kerr foi isso mesmo, invicto, imparável, um organismo programado para vencer. Até 1997, ano em que a derrota deixou de ser hipótese abstracta e se materializou, brutal, diante das câmaras e das multidões. Não se tratou apenas de perder um combate. Foi perder pela primeira vez. Foi descobrir, em público, que a condição humana não poupa ninguém, nem mesmo os que foram treinados para esmagar.
Dwayne Johnson encarna Kerr com uma fisicalidade que lhe é natural, mas aqui usada contra si própria. Johnson sempre soube fazer do corpo um território narrativo; em “The Smashing Machine” , porém, esse território torna-se prisão. Para lá da caracterização, próteses, cabelo curto, um rosto permanentemente cansado, há uma escolha mais subtil. Johnson interpreta o peso invisível de quem passou a vida inteira a ouvir que tinha de ser o mais forte da sala. Trata-se de uma solidão muito específica, a dos invencíveis, para quem falhar, pedir ajuda ou cair se torna impensável.
Após a derrota, a vida de Kerr começa a ruir de forma surda, como um edifício que colapsa por dentro, sem ruído público. As drogas deixam de anestesiar a dor; as crises deixam de encontrar refúgio. O corpo, antes instrumento de domínio, transforma-se em espaço de conflito. Surge então Mark Coleman, amigo e rival, interpretado por Ryan Bader com uma contenção quase embaraçada. A sua presença parece por vezes pouco expressiva, mas talvez seja precisamente essa opacidade que confere verdade à relação entre ambos. Amizades entre lutadores raramente são límpidas; são alianças silenciosas, feitas da consciência partilhada de que, mais cedo ou mais tarde, será preciso enfrentar o outro. O afecto nasce da semelhança, mas a semelhança carrega sempre a ameaça da substituição.
E há Dawn. Emily Blunt constrói-a com uma delicadeza que não se confunde com fragilidade. Dawn é o mundo fora da jaula, o espaço onde não existem árbitros nem regras claras, onde o amor precisa de sobreviver à intempérie. Ela aprende cedo que amar um colosso implica também aprender a desviar-se dele, a proteger-se quando a fúria não encontra alvo e se espalha pela casa. Num dos momentos mais perturbadores do filme, torna-se evidente que o Kerr sóbrio pode ser menos suportável do que o Kerr amortecido pelos opiáceos. Instala-se uma pergunta incómoda e sem resposta sobre quem é este homem quando lhe retiramos as substâncias que o adormecem e o que sobra quando a força deixa de bastar.
Safdie filma tudo isto sem urgência nem sublinhados. Recusa a tentação do clímax redentor, da música épica, do discurso edificante. A luta não é glorificada; é mostrada como repetição, desgaste, sobrevivência. O filme não aspira à grandiloquência de outros retratos do colapso masculino, como “Foxcatcher” (2015), de Bennett Miller ou “The Iron Claw” (2023), de Sean Durkin. Aqui, a dor é mais baixa, mais quotidiana, menos espectacular. A questão central não é saber se Kerr vencerá o próximo combate, mas se conseguirá suportar a imagem que vê ao espelho.
Há, contudo, uma cena que condensa o sentido do filme. Kerr acaba de perder, suado, vestido apenas com a sunga que expõe o corpo e a vulnerabilidade, e entra num elevador, suspenso entre o que foi e o que deixou de ser. Um funcionário de um restaurante reconhece-o, hesita, não sabe se deve entrar. Pouco depois, no camarim, o gigante desmorona-se em lágrimas. O choro dispensa qualquer forma de heroísmo ou dignidade performativa. O que resta é um homem diante do colapso de uma narrativa que o sustentou durante anos. Um momento que expõe uma verdade rara no cinema de combate, a de que a derrota não humilha, apenas revela.
Num mundo que idolatra a ideia de muralha, o choque maior não vem do adversário, mas do instante em que a própria vida empurra de volta. Kerr não perde apenas um combate; perde o alicerce que o sustentava. Quando a fantasia da indestrutibilidade cede, o que resta é um homem obrigado a negociar com os próprios limites, sem épica nem garantias.
Safdie recusa fechar o destino do protagonista. Não sabemos se Kerr se apoia em Dawn, se preserva a ligação a Coleman, se insiste numa última ilusão de grandeza ou se escolhe simplesmente resistir ao dia seguinte. Essa ambiguidade não é hesitação narrativa, é uma tomada de posição, a recusa de transformar a experiência humana num enredo limpo e resolvido.
Ninguém prepara os gigantes para a queda. Ela acontece fora do espectáculo, depois do ruído, quando o aplauso se dissipa e sobra apenas o silêncio de quem percebe que a força, sozinha, nunca foi suficiente. É aí que o filme se afasta da luta para tocar algo mais amplo, a descoberta tardia de que a vida não é um ringue justo e que as perdas decisivas acontecem longe das câmaras, num combate interior que não admite interrupções.