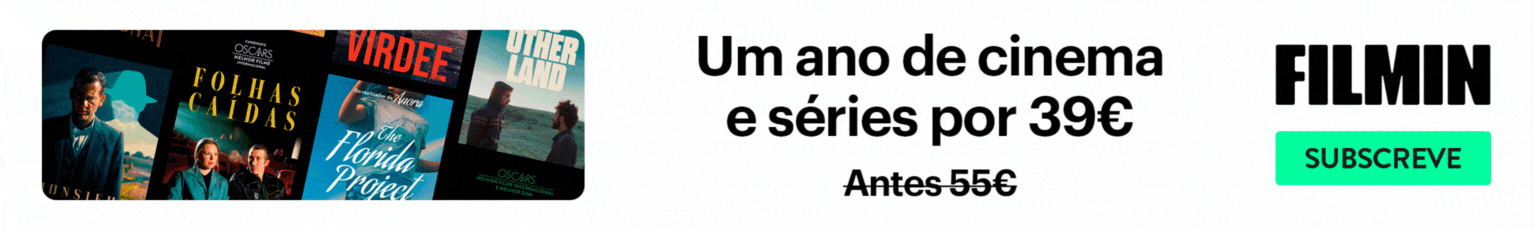Há aniversários que passam discretos, quase escondidos, como uma vela acesa num canto da casa. E há outros que regressam como uma carta que deveria ter chegado décadas antes, mas que, por alguma razão que só a vida entende, aparece precisamente no momento em que faz sentido. Celebrar os vinte anos do lançamento de “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, de Mike Newell, tem esse sabor de reencontro. Não se trata apenas de recordar um filme. Trata-se de revisitar a pessoa que fomos em 2005 e perceber que ela ainda existe algures, mesmo que já não caiba no corpo que temos hoje.
Duas décadas parecem muito e parecem pouco ao mesmo tempo. Um período suficiente para uma criança nascer, crescer, apaixonar-se por alguém da sala ao lado, sentir a primeira derrota e talvez entrar na universidade. É tempo suficiente para uma geração inteira se transformar. E nós, espectadores que acompanhámos o crescimento daqueles três jovens de Hogwarts, crescemos com eles. “O Cálice de Fogo” marca o instante em que deixaram de ser crianças e passaram a tropeçar no território difuso da adolescência. E é por isso que este aniversário nos comove mais do que esperávamos.
Em 2005 muita gente ainda acreditava que sabia o que era crescer. Tínhamos certezas inexplicáveis, paixões rápidas, convicções que mudavam de mês para mês e aquela confiança juvenil que ignora a complexidade do mundo. Estávamos numa época que parecia luminosa. Vivíamos entre o MSN e o Orkut e pensávamos que isso era evolução. Fomos ao cinema para ver mais um capítulo de uma saga que já sentíamos nossa. Esperávamos magia e mistério e recebemos algo inesperado. O desconcerto de perceber que os personagens estavam a atravessar a mesma fase caótica que nós.
A verdadeira sombra daquele filme não está nos cenários sombrios nem nas ameaças que pairam sobre Hogwarts. Está na sensação miúda e persistente de que crescer é um processo doloroso. Harry tenta sobreviver a desafios para os quais não pediu inscrição. Rony reage com ciúmes que mal compreende. Hermione tenta administrar a frustração de ser sempre a mais consciente do grupo. E todos nós já estivemos nesse lugar onde não sabemos bem quem somos nem quem queremos impressionar. O filme envelheceu mas essas emoções continuam intactas. São a parte que nada apaga.
A sequência do baile de Inverno sobreviveu ao tempo de uma forma que poucos momentos da saga conseguiram igualar. Vinte anos depois continua a provocar um sorriso envergonhado. Hermione a descer as escadas com um vestido que a transformava diante de todos é a imagem de uma descoberta universal. É o instante em que percebemos que uma amiga que víamos desde sempre já não é uma criança. É a revelação de que o tempo tem pressa. Não sabemos quando isso acontece mas acontece de forma definitiva.
Rony não sabe lidar com esta mudança. Harry tenta manter algum equilíbrio mas também se perde no meio do próprio desconforto. A magia do universo ao redor torna-se pano de fundo. No centro daquela cena só existe o drama emocional que qualquer adolescente reconheceria de olhos fechados. Não importa se crescemos em Londres, Lisboa ou numa pequena cidade do interior. Todos tivemos um baile em que a luz parecia demasiado forte e a insegurança parecia maior que qualquer dragão húngaro vindo da Romênia.
Sempre se disse que o quarto filme marcava essa transição para uma escuridão maior do que nos anteriores. Mas hoje essa escuridão revela outro significado. Não é apenas uma escolha estética. É a metáfora perfeita da adolescência. Nada é totalmente iluminado. Há sempre cantos por explorar, sombras onde escondemos dúvidas, silêncios que não sabemos decifrar. O Torneio Tribruxo funciona como um ritual de passagem cruel, que exige maturidade de quem ainda tenta entender o que é ser maduro. Visto agora, o filme fala menos sobre coragem e muito mais sobre vulnerabilidade.
A morte de Cedrico Diggory (Robert Pattinson) é o ponto de virada da saga e continua sendo um dos momentos mais tristes de toda a série, superada apenas pela perda de Sirius Black (Gary Oldman). O choque é imediato. Nada prepara Harry e nada preparou os espectadores. Pela primeira vez sentimos que aquela história leve que nos acompanhava desde a infância podia doer de verdade. Cedrico tornou-se o símbolo da primeira perda. E quem era jovem naquela época aprendeu algo que talvez ainda não tivesse entendido. A vida não poupa ninguém.
O “O Cálice de Fogo” não foi concebido como um filme sobre amadurecimento. Foi pensado como entretenimento. Mas o tempo encarregou-se de revelar a verdadeira natureza desta obra. Hoje é claro que filmou mais do que magia. Filmou a travessia entre a infância e a idade adulta. E filmou essa travessia sem alarde. Basta rever o olhar de Hermione quando Rony a trata com desdém ou a expressão perdida de Harry quando tudo parece exigir dele mais do que ele pode dar. São nuances que talvez não tivéssemos percebido aos quinze anos mas que agora saltam aos olhos.
Hermione aparece hoje mais complexa do que então. A frustração dela já não soa como capricho. Soa como a dor de crescer mais depressa que os outros. Rony tornou-se o retrato mais exacto das inseguranças que carregámos sem perceber. E Harry, que antes parecia apenas o herói atormentado, hoje revela uma solidão que não tínhamos idade para compreender.
Ao longo destes vinte anos a cultura pop transformou-se de maneiras difíceis de imaginar em 2005. Hoje discutimos sagas, remakes, universos compartilhados, exaustão comercial, nostalgia industrializada. No entanto, “O Cálice de Fogo” resiste num lugar mais íntimo, quase imune à saturação. Não é um símbolo da era dos efeitos visuais nem um marco técnico. É uma cápsula emocional. Uma recordação de que crescemos diante das câmaras de um cinema lotado e, sem perceber, deixámos um pedaço de nós ali, entre o dragão e o baile.
Rever o filme agora é perceber que houve um momento em que acreditávamos que o futuro seria mais simples. Não sabíamos que íamos sentir falta da confusão adolescente, da sensação de não caber no próprio corpo, das lágrimas mal explicadas, da primeira vez que alguém nos decepcionou. Nada disso parecia poético naquela altura. Só parecia confuso. Mas o cinema tem esta capacidade peculiar de transformar retrospectivamente o que era difícil em algo que se ilumina. A adolescência raramente é luminosa quando se está nela. A luz aparece depois, quando já não dói.
Vinte anos depois percebemos que o tempo fez o que sempre faz. Levou embora a urgência do momento. Deixou apenas o essencial. Um filme que não tem a pretensão de ser o melhor da saga, mas que talvez seja o que melhor capta a sensação de estar a meio da travessia. Nem criança, nem adulto. Apenas alguém no limiar, tentando descobrir quem deve ser. E isso basta para que “O Cálice de Fogo” se mantenha vivo na memória colectiva.
Não celebramos apenas o aniversário de um lançamento. Celebramos a possibilidade de revisitar uma versão antiga de nós mesmos. A memória atua como um mago, movendo-se entre nós sem ser vista. Tira-nos do presente, leva-nos de volta ao escuro da sala de cinema e recorda que já fomos outros. Em vinte anos Hogwarts continua igual. Nós é que voltamos diferentes. E ainda assim, por um instante, ao ver Harry correr com aqueles óculos tortos e o cabelo desalinhado, é como se nada tivesse mudado. É o tipo de truque que nem Dumbledore explicaria. O tipo de magia que só o tempo consegue fazer.