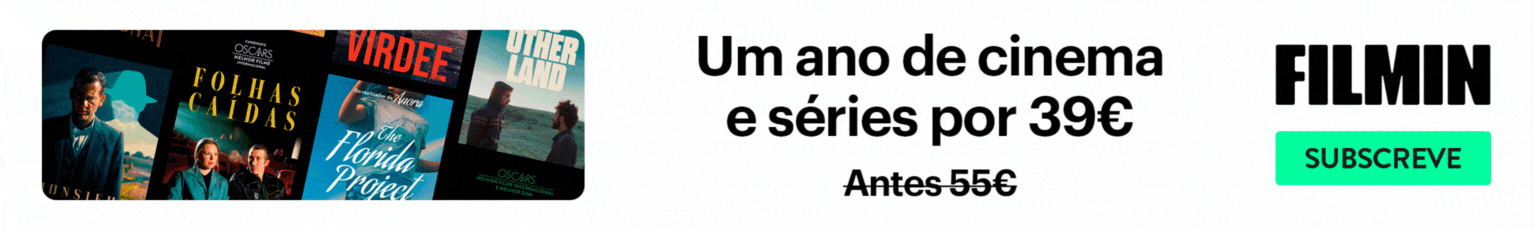Parece que o tempo resolveu brincar comigo. Juro que ontem ainda andava pela escola primária, a imaginar que o roupeiro lá de casa escondia um lampião tremelicante do outro lado. E, no entanto, eis-me hoje a constatar que já passaram vinte anos desde a estreia de “As Crónicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa”, a 9 de dezembro de 2005. Vinte anos. Dois decénios inteiros desde que nos metemos dentro de um armário com quatro crianças londrinas e demos de caras com uma paisagem nevada onde até o frio parecia obedecer a uma ética própria. A minha coluna vertebral estala só de pensar.
Acontece que o elenco principal decidiu recentemente juntar-se para celebrar a maioridade cinematográfica de Nárnia. Georgie Henley, a eterna pequena Lúcia que entretanto cresceu e muito bem, publicou uma fotografia ao lado de William Moseley, Skandar Keynes e Anna Popplewell. Todos ali perfilados como se o tempo fosse uma peça de roupa que se pode desamassar ao vapor. Andrew Adamson, que comandou os dois primeiros filmes, também apareceu na moldura, recriando com aquela dignidade de tio artista a velha imagem dos bastidores. Falta apenas a bola de naftalina para completar o cenário.

Georgie escreveu qualquer coisa como vinte anos, e eu a sentir-me quase um fauno artrítico. Ela agradece ao Andrew por ter criado magia na vida real, e eu imagino Adamson, o homem que saiu de “Shrek”, a tentar equilibrar um mundo onde castores falam com sotaque britânico e uma feiticeira albina impõe um inverno eterno. É preciso uma certa saúde mental para isto, digamos a verdade.

O filme foi ao Óscar e até ganhou pela maquilhagem, o que faz sentido. Tilda Swinton, na pele da Feiticeira Branca, é absolutamente memorável: uma presença escultórica e etérea, ao mesmo tempo glacial e magnética, capaz de dominar cada cena com um simples olhar. Parece saída de uma galeria conceptual de Londres, talvez instalada entre um quadro de Hockney e uma senhora que protesta contra o preço do chá. A sua figura era de tal maneira esculpida que, quando reapareceu agora nas fotografias comemorativas, eu quase ouvi ao fundo um estalar de gelo a anunciar que o Natal continuava adiado.
Recordo-me de que a adaptação de Adamson fez o que parecia impossível. Transformou um livrinho franzino de Lewis numa epopeia grandiosa, cheia de bosques, batalhas e bicharada falante sem nunca perder a tal essência humana. Ele pegou na mitologia pesada de Tolkien e deixou-a repousar um pouco, como quem pendura um sobretudo húmido à porta, e foi buscar a leveza malandra de Lewis Carroll e as peripécias juvenis de Enid Blyton. Resultado: quatro crianças, um guarda-roupa e uma floresta inteira a pedir chá quente.
Há também a história da evacuação, aquelas crianças enviadas de Finchley para o campo em plena guerra. O pai anda a lutar contra Hitler, enquanto elas descobrem que florestas encantadas podem ser igualmente hostis. Jim Broadbent surge como o tal professor meio rabugento, mas no fundo de uma decência pastoral que hoje já parece ficção científica. A pequena Lúcia entra no roupeiro, afasta casacos que parecem peles freudianas e dá de caras com neve, um lampião e o fauno Tumnus, magnificamente interpretado por James McAvoy, que se comporta como um guia turístico para forasteiros impressionáveis, mas que, sob a superfície gentil, revela a coragem e a astúcia de um verdadeiro guerrilheiro a lutar por uma Nárnia livre em tempos de ditadura invernal.
E, claro, o coração do filme pulsa através das quatro crianças. Georgie Henley, a pequena Lúcia, irradia uma inocência fascinante e uma coragem desarmante, que nos faz acreditar plenamente na magia do roupeiro. William Moseley, como Pedro, combina liderança e vulnerabilidade com uma naturalidade impressionante. Skandar Keynes, como Edmund, encarna a tentação e a culpa de forma tão tangível que cada erro reverbera no espectador. Anna Popplewell, no papel de Susana, aporta maturidade e delicadeza, sustentando o equilíbrio do quarteto. Juntas, estas interpretações criam uma sinfonia de emoções que nos recorda que a magia de Nárnia reside, acima de tudo, na presença e no olhar destes jovens atores, capazes de nos fazer crer que um leão milenar e mítico realmente fala, guardando toda a sabedoria do mundo.
Dentro deste quarteto, Edmund assume um papel particularmente complexo. Sempre há um Edmund em cada família, aquele que troca tudo por um punhado de doces de origem duvidosa. A Jadis de Swinton percebe isto com um pequeno sorriso gelado. A Inglaterra inteira podia ruir, mas uma criança corruptível por açúcar mantém-se sempre actual. A cena em que ela troça do coitado do Tumnus lembra Orwell, o que é uma coisa que nenhum de nós imaginava quando abriu o livro pela primeira vez.
O sacrifício de Aslan, esse grande felino de voz melíflua, aqui na interpretação de Liam Neeson, impõe o tom moral sem nunca cair no sermão de domingo. Eu, que passei a adolescência a rejeitar Nárnia depois de descobrir a parábola cristã escondida nos rodapés, acabei por fazer as pazes com a história graças ao segundo filme, “Príncipe Caspian”, que fará 20 anos em 2028. Adamson devolveu-me o encanto, aquele pedaço de infância que julgava perdido entre cadernos escolares e a primeira desilusão amorosa.
Nesse sentido, vinte anos depois, percebo que o primeiro filme basta para a vida inteira, como aquelas memórias que permanecem intactas enquanto não lhes mexemos demasiado. Pode até haver quem se afaste dele, recordando as alegorias religiosas e as mensagens elevadas que estão na base da obra homónima, e não conseguindo separar o encanto da lição moral. Eu, por outro lado, vejo apenas um bando de miúdos a correr pela neve, perdidos no riso e na aventura, a acreditar piamente que um leão fala e que, por momentos, o impossível é tão natural quanto o respirar. E, às vezes, basta isso para aquecer o coração, mesmo quando lá fora o inverno insiste em não acabar, prolongando-se por semanas, meses, anos, como certas saudades que não se vão embora.