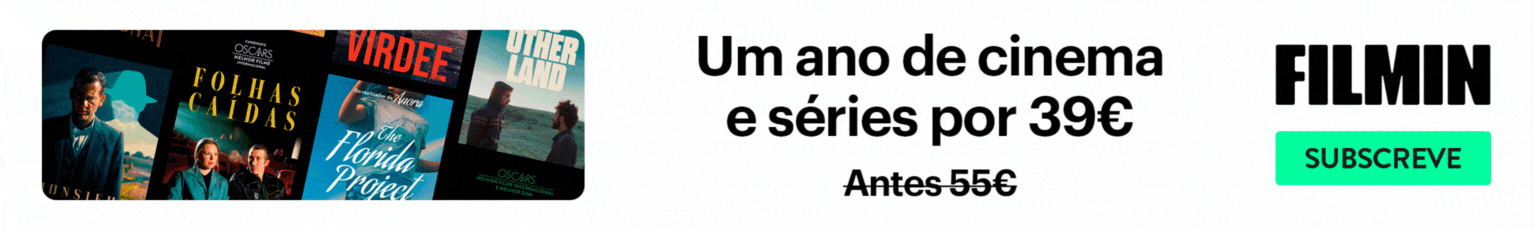Ator e realizador nascido na Guiné-Bissau, Welket Bungué tem construído, nos últimos anos, um percurso singular no cinema contemporâneo, fundado numa prática artística que cruza corpo, território e identidade.
Como ator, já passou por festivais como a Berlinale e Cannes e colaborou com cineastas como David Cronenberg ou Burhan Qurbani. Este ano, protagonizou a série “Reencarne”, na Globoplay, e “Pssica”, na Netflix. Enquanto realizador, já estreou cerca de 27 obras nos últimos dez anos, tendo os seus filmes marcado presença nos mais importantes festivais nacionais. Bungué afirma-se como uma das vozes mais relevantes do fazer cinema, não apenas como forma, mas como gesto de insurgência.
Nesta conversa, falamos sobre a interculturalidade que atravessou a sua infância, o momento de assumir a realização e sobre corpos que insistem em existir no ecrã para além das narrativas dominantes. Um diálogo que se estende entre a Guiné-Bissau, Brasil, Portugal e o mundo, no qual revisitamos a sua filmografia enquanto realizador e o seu livro “Corpo Periférico”.

Entrevista a Welket Bungué:
Cinema Sétima Arte (CSA): Welket, o teu nome significa reviravolta. Nasceste na Guiné-Bissau e vieste para Portugal ainda em criança. De que forma essa infância intercultural moldou a tua identidade enquanto artista? E em que momento sentes a necessidade de contar as tuas próprias histórias?
Welket Bungué (WB): A educação que tive foi altamente intercultural. Na minha casa, integrávamos as tradições da Guiné-Bissau com aquilo que são as tradições e o culturalismo português. Ao mesmo tempo, ter crescido no internato em Beja, na Casa do Estudante, fez com que eu tivesse, de alguma maneira, assimilado a portugalidade. E é depois de terminar a minha formação no internato e ter voltado para Lisboa que, com o tempo, percebi que era mais alentejano do que propriamente lisboeta e tive de fazer essa adaptação; no teatro trabalhei novamente o sotaque para voltar a estar mais próximo do sotaque lisboeta, aquele que é considerado neutro. No ano de 2009, entro no conservatório (ESTC) e participo em dois grandes projetos de ficção, Equador e Morangos com Açúcar. Aos 24 anos, vou para o Brasil, território para o qual tenho ido regularmente. A minha formação é uma consequência de todas estas viagens, desse transe por inúmeros territórios; consequentemente, as culturas por onde passei definiram muito a minha maneira de olhar o mundo e de interagir com as pessoas.
Quando perguntas quando decidi começar a contar histórias? Diria que há aqui duas fases: uma fase em que quero ser ator, e passei por todo um processo formativo, começo a trabalhar na indústria do cinema e audiovisual, sobretudo como ator e intérprete; e a segunda é quando chega o momento em que senti a necessidade de contar as minhas próprias histórias, poder trazer elencos e corpos que sentia estarem sub-representados em Portugal.
CSA: “Bastien”, a tua primeira curta-metragem enquanto realizador, acaba por te revelar um novo lugar de criação. Como surgiu este projeto e como foi assumir, simultaneamente, a realização e a interpretação?
WB: “Bastien” é uma história inspirada na minha vivência no colégio. Parto da referência de um amigo meu, que na época estava a começar a pintar e hoje é profissional, David Reis Pinto, e crio essa personagem que vive na periferia da cidade e cujos sonhos ou almejos dessa natureza, a de ser pintor, não têm um espaço para acontecer. Bastien, o protagonista que dá nome ao filme, tem uma sensibilidade mais fluída em termos de energia masculina e feminina; não é uma personagem hipermasculinizada, ou o típico bad boy black man heteronormativo da periferia, como é comum nos filmes de realismo social.
Na verdade, a realização acontece acidentalmente. Na época, eu escrevo o argumento com a intenção de interpretar o Bastien e convido um realizador com quem já tinha trabalhado, e uma semana antes da rodagem ele diz-me que não pode realizar, e é aí que assumo eu a realização do projeto. No momento foi desafiante juntar a realização à interpretação, mas vinha de um lugar de fala e propriedade que, se calhar, outro realizador não teria.
A partir daí, senti que esse era o meu caminho. Senti mais do que licença e validação para continuar a fazer filmes.
CSA: No final de “Bastien”, deixas uma frase que soa como um aviso: “O mal é uma semente ávida de luz. Sempre que o usares ele crescerá até que faça parte de ti.”
O que representa esta metáfora e de que forma a tensão entre luz e sombra atravessa o teu cinema e o teu pensamento artístico?
WB: Essa frase é consequência da empatia, do cuidado e da preocupação que eu tenho pela personagem do Zézito, que tinha o sonho de se tornar futebolista, mas vê esse sonho impossibilitado quando a personagem do Carlos Mariana lhe corta o tendão de Aquiles. E, na cena de vingança do Zézito, eu uso um plano de slow motion, que nos ativa uma reflexão; tomamos este plano como um pesadelo, uma possibilidade de um final do filme que seria compreensível, mas que não é necessariamente o único desfecho possível da narrativa.
Mas, com esta cena de vingança, questionamos: se ele a levar a cabo, o que é que se tornará no futuro? Isso é uma questão que está no filme, que não é necessariamente aquilo que estamos a ver. É para refletirmos sobre isso.
E o que é certo é que tanto para o Karma, Jonas, Zézito e os jovens, se eles alimentarem este sentimento de vingança e tudo o que faz parte do universo do mal, eles vão tornar-se essa malignidade em pessoa. E essa problemática atravessa os três filmes de realismo social. Porque mesmo Arriaga, na curta-metragem “Arriaga”, de 2019, tem a infame ideia de desejar pertencer a um determinado círculo e isso leva-o a uma situação em que comete um assalto. Ao mesmo tempo, a sua natureza vem ao de cima, quer ser um vingador, um justiceiro.
Isto para explicar que essa frase surge por causa da preocupação que eu tenho com todos os meus pares e com outros jovens que crescem em ambientes problemáticos, nomeadamente ambientes desassistidos pelo Estado, em que as regras são criadas pela comunidade e, muitas vezes, a regra que impera é a lei do mais forte sobre o mai fraco.
E é altamente suscetível que, se o indivíduo não mudar paradigmaticamente a ideia que tem do que é sucesso e sobrevivência, é suscetível de resvalar para esse mundo do crime, para esse mundo movido pelo ódio, para esse mundo que é inflamado e sustentado pela ideia de sobrevivência, quando na verdade nós não viemos cá para isso. Nós viemos para vibrar ao mais alto nível com a luz interna que temos, mas ela está obscurecida, porque vamos sendo derrotados ao longo da nossa infância, ao longo da nossa vida adulta, por esta ideia de que devemos servir uma máquina gigantesca, sistemática.

CSA: A tua carreira como ator desenvolve-se em diferentes territórios, como Portugal, Alemanha e Brasil, e em várias línguas. De que forma essa itinerância moldou a tua visão enquanto realizador e a forma como trabalhas o corpo, a linguagem e a representação no cinema?
WB: Eu sou melhor realizador, porque sou um ator que tem a oportunidade de pôr em prática o seu ofício em vários territórios, em inúmeras línguas, com diferentes linguagens do fazer cinema, e isso não deixa de ser um grande laboratório a tempo inteiro.
Naturalmente, abre-me um olhar narrativo para que possa conceber histórias que envolvam narrativas distintas, mas que também possam evocar corpos e situações inusitados, tendo em conta a cultura que domina predominantemente, que é a portuguesa. E isso faz com que haja sempre um grande contraste entre aquilo que se faz aqui e as minhas propostas de visão para cá. E essas propostas começam logo por subverter e dissolver completamente o modus operandi da indústria que temos. Procuro torná-la mais misturada, mais crioulizada, interseccional e que afete todos os departamentos de produção.
E porque é que é especificamente isto? Porque a indústria trabalha com a imagem, a imagem é poder, a imagem é a referência, e as pessoas, pelos vários tradicionalismos e atavismos culturais, vão respondendo sistematicamente a uma série de preceitos.
Fazer cinema é um trabalho que tem de ser feito com honestidade e profundidade. Temos de tornar os filmes mais diversificados e internacionalmente culturais e étnicos, para que possam ser vistos em Angola, Moçambique, Brasil, e por aí vai. E isto não significa abrir mão das características que definem, diria eu, de forma genuína, o que é o cinema português. Significa possuir o tipo de estratégia que consegue fazer frente, emplacar neste mercado predatório que existe.
Nós ainda temos a sensação de que o cinema é, em certa medida, imaculado no sentido conservador do termo e que a textualidade deve ser entregue com uma certa prosa e poesia que justifique o epíteto de sétima arte. E isso é uma característica tradicional do burguesismo. Devemos ser apelativos para com as comunidades, com os outros públicos. Tomando por exemplo a obra do Basil da Cunha, ele trabalha com nichos comunitários, especificamente o da região da Reboleira, que é um tecido social apartado da grande massa populacional do país, mas que depois consegue ter eco noutros territórios. E quem vê os filmes do Basil da Cunha não está a ver apenas um filme português, está a ver um filme que retrata os sonhos e as vivências de uma comunidade.
Há certos culturalismos que me vão atravessando enquanto indivíduo. E uma das coisas em que me tenho focado enquanto cidadão-artista é que, se eu tiver de contar histórias, não podem ser histórias que se entendam unicamente como pertencentes a um território, mas que reflitam esta polifonia cultural e de entendimento do mundo.
CSA: Os teus filmes abordam temas como justiça social, emancipação, representações não normativas e direitos das comunidades negra e queer, temas visíveis na trilogia “Sonhos de Cor” e em “Eu não sou Pilatus”.
Que papel achas que o cinema pode desempenhar na criação de empatia e na transformação da consciência coletiva?
WB: Toda a minha visão vai para além da questão da arte, enquanto fazer estético. A resolução ou a resposta possível a essa pergunta é viver a vida artisticamente falando, ou seja, tu teres uma certa predisposição para ouvir o outro e permitir que o outro fale.
A parte que me toca a mim é estritamente ligada ao fazer artístico, neste caso, às artes de palco ou através do cinema, tentando imbuir e implicar a minha visão construtivista relativamente aos encontros entre as diferentes culturas, entre diferentes corpos, diferentes crenças e, sobretudo, tentando forjar a ideia de que é possível ser-se aquilo para o qual nascemos, efetivamente contrariando a narrativa dominante de que existe meritocracia, ou então contrariando a ideia de que, para termos sucesso, temos que adentrar esse espaço de competições exacerbadas e do sucesso comparativo, que é uma coisa que tem adoecido muito esta geração.
E é por isso que muitas vezes também tenho de procurar uma rudimentaridade no exercício da criação cinematográfica, para também deixar esta marca de que as histórias são e devem ser contadas com os recursos disponíveis. E quanto mais forem contadas com uma certa honestidade de entrega, maior a suscetibilidade de serem intemporais.
Por exemplo, “Eu não sou Pilatus” é um filme-manifesto. Infelizmente, o filme ganha um significante de relevância porque ainda conseguimos percecionar a problemática que é levantada no filme. Mas não é só de agora; já houve anteriormente, no momento da guerra civil nos Estados Unidos, nos anos em que houve a ditadura no Brasil, nos anos em que nós estávamos a viver aqui o salazarismo. Mas, mais do que unicamente criticar, há aqui uma intenção de gerar empatia por parte do público, para entender que este problema é um reflexo da sociedade ou então de uma mentalidade que precisa ser tratada, desconstruída, discutida e sanada.
CSA: Quando crias um filme, procuras responder a algo ou provocar uma reflexão? O cinema deve esclarecer, confrontar ou abrir espaço para discussão?
WB: Ele ativa o pensamento. Porque o cinema tem este poder de replicar sensações ou de ativar emoções em quem vê, porque há um reconhecimento através da imagem, através do som, através do corpo, da figura humana que temos ali e através do contexto. Por isso se chama narrativa.
A discussão só pode existir se houver vontade do programador, se houver vontade do indivíduo que vai consumir o filme. É nesse sentido que eu digo que o filme não deixa de ser uma obra que, dependendo do contexto, nós conseguimos depois condicionar as suas repercussões, levando-as para uma discussão, para a criação de outros materiais que possam expressar várias emoções, pensamentos, transgredir, fazer uma série de outras coisas.
Por isso é que os meus filmes almejam todos encontrar o espaço público, para que possam ser forças ou elementos impulsionadores do encontro e da discussão. Estou interessado em compor um corpo de obra que fique para a posteridade e que possa depois ser resinificada pelos vários curadores e intermediários que possam surgir.

CSA: Na tua mais recente obra, “Contemplação Impasse Tentativa”, regressas à Guiné-Bissau numa viagem marcada por Amílcar Cabral e pela poesia do teu pai. O que representou para ti esse regresso, e como dialogam a memória do país, a tua história pessoal e a imagem cinematográfica?
WB: Este filme surge quase acidentalmente; eu estava em viagem para o sul da Guiné-Bissau quando me apercebo de que vou passar por Xitole, a vila onde nasci, e foi aí que pensei que as filmagens que eu estava a planear fazer talvez pudessem resultar numa história, num filme, até porque quero ver esse lugar e filmá-lo ao longo da trajetória.
No entanto, durante a viagem, apercebemo-nos de que o autocarro não iria parar em Xitole; eu consigo convencer o motorista a fazer uma paragem rápida, mas apenas consigo fazer um selfie, e esse é o único registo que tenho, que aparece duas ou três vezes ao longo do filme.
Mas, passado esse local, deparámo-nos com um grande impasse, que é um enorme engarrafamento provocado por um carro do Estado. Só que esse engarrafamento acontece numa grande praça onde tem lugar uma feira todas as semanas. E eu começo a filmar, com o telemóvel, todo aquele impasse. Com o decorrer do tempo, as pessoas têm de avançar e começam a tirar os carros delas e a tentar fazer vias paralelas para que os autocarros consigam prosseguir. Então, todo esse processo de mobilização da força humana, da suspensão dos afazeres, tornou-se muito interessante para mim. E aí eu disse: “Isto aqui tem que resultar em algo, porque estou a ver o esforço destas pessoas em tentar consertar o problema que estava a impedir o trânsito e que é provocado por um mandatário do Estado.”
E, a partir de tudo isto, interessa-me voltar a Amílcar Cabral, que é o pai da nação e a quem já tinha feito um filme em sua homenagem. E, como é comum no meu trabalho, densifiquei essa intenção através de imagens com uma narração forte, que não é uma narração direta ou indireta, trazida pelas poesias do meu pai. Um dos poemas chama-se “Boé”, local onde foi proclamada unilateralmente a independência da Guiné-Bissau, e o outro “Cabral”. Então, eu faço percecionar esses dois poemas e pergunto: o que diria Amílcar Cabral naquele momento? O que diria Amílcar Cabral e o povo guineense?
A resposta está naquilo que observamos: o impasse, mas também todas as pessoas empenhadas em resolver a situação.
CSA: No teu livro “Corpo Periférico”, afirmas que “torna-se corpo periférico aquele que se torna consciente do seu diferencial individual, descobrindo em si o potencial disruptivo que habita em todos nós”. Como nasce este conceito na tua vida e de que forma este pensamento se manifesta na tua prática artística e no teu posicionamento enquanto cidadão-criador?
WB: Este livro surge do entendimento e da coleção de várias práticas que fui executando desde 2009, quando entrei para a faculdade. A assunção desse termo periférico surgiu porque morei no Vidigal, uma comunidade que fica na zona sul do Rio de Janeiro, e eles entendem-se como periféricos, que moram na periferia.
Mas interessou-me, na época, ver uma coisa: várias estrelas de filmes como “Cidade de Deus”, “Cidade dos Homens”, “Tropa de Elite”, filmes de realismo social… Estas pessoas fizeram o quê? Elas saíram desse lugar, um lugar notoriamente precarizado ou desprivilegiado do ponto de vista da assistência social, política e de recursos básicos, foram trabalhar nos maiores estúdios, fizeram parte de tantos projetos que despoletaram a sua imagem para fora do país, mas voltaram para aqueles lugares, para os empoderar.
Então, aí eu entendi que periférico, de facto, não é aquilo que é desterrado ou desprivilegiado do ponto de vista geográfico ou económico. É aquele que está empoderado, que sabe qual é o seu valor e que transita e, ao transitar, leva a sua cultura e o seu entendimento do mundo para outros lugares. Mas também, quando volta, traz outros saberes, e isso vai perdurando na comunidade.
Antes de te tornares periférico, supõe-se que estavas num lugar de desvantagem social ou estavas numa situação que não refletia o teu potencial interno enquanto cidadão. Mas essa condição é uma condição de periferizado e, para isso, trago o exemplo do escravo e de escravizado. Ele não é um escravo porque se autodeclara como tal; era colocado na situação de escravo, portanto é escravizado.
O indivíduo é marginalizado e, enquanto ele não despertar, não fizer um trabalho de autoconhecimento para entender porque é que está a ser reprimido por uma força que se autointitula como centro de tudo, ele continua periferizado. O corpo impostor faz uso de privilégios exacerbados, que injustamente relega o outro para a margem e o destitui de humanidade e de poder social. Até mesmo o desencoraja a ter qualquer tipo de orgulho relativamente à sua imagem e a si mesmo.
Então, o tornar-se periférico é como que edificar-se e tornar-se um novo. A partir do momento em que há essa mudança de paradigma do indivíduo, ele passa a ser periférico, na medida em que jamais consegue ser dominado pelo corpo centro impostor, porque passa a destituir o centro todo, toda a vez que circula.